GUY DEBORD, UM FILÓSOFO PARA O SÉCULO XXI
Se tomarmos como balizas de Novecentos a Revolução Russa (1917) e a
implosão da União Soviética (1991), poder‑se‑á dizer que a vida e a obra de Guy
Debord (1931‑1994) são inseparáveis da aurora e do crepúsculo do século XX. Com
a sua morte, curiosamente, assistimos a uma tremenda explosão editorial. Para
Anselm Jappe, a grande razão de ser desse fenómeno prende‑se com a «conspiração
da tagarelice», sucedendo esta, aliás, à do silêncio, que selou toda a
existência intelectual deste autor. Jappe faz igualmente um severo diagnóstico
dos estudos debordianos: «É notória a ausência de análise teórica nos milhares
de páginas recentes dedicadas a Debord.» Pelo contrário, as que pretendemos
escrever hão‑de estar nos antípodas de uma perspectiva anedótica e
psicologizante, que é própria de quem simplesmente nele vê um dandy. Devemos tomá‑lo, portanto, como
um filósofo, ainda que ele não se reconheça como tal. Mais: a nossa hipótese de
base, cuja demonstração nos cabe fazer, passa necessariamente pela afirmação de
que Debord, ao retomar o caminho que vai de Marx a Adorno, consegue reanimar a
teoria crítica, pondo‑a a salvo, designadamente, da crise planetária do
marxismo ortodoxo. Nessa reanimação anarcomodernista, e de que a superação da
arte se perfila como o ponto de partida, cumpre um papel decisivo o conceito de
espectáculo, cuja compreensão exige uma distinção categorial entre aparência e simulacro. Na verdade, é absolutamente imprópria a confusão pós‑moderna
entre as duas noções, o que contribui, por outro lado, para o erro de uma
interpretação pós‑modernista do pensamento debordiano. São implausíveis, por
exemplo, as recorrentes aproximações conceptuais entre desvio e desconstrução, deriva e nomadismo e, em especial, espectáculo
e simulacro. Porquê? Porque as
teorias de Derrida, Deleuze e Baudrillard se baseiam num pressuposto
fundamental: a recusa da dialéctica. Para Debord, claro está, essa recusa, dada
a sua condição de hegeliano‑marxista, é absolutamente inaceitável.
É por isso que, por muito apelativa que seja, por exemplo, a abordagem
biográfica de Vincent Kaufmann, não a podemos fazer nossa. Realmente, está
bastante longe do espírito com que empreendemos a presente investigação a
defesa de uma tese comparável à seguinte: «Avant d’avoir été un théoricien ou
l’animateur de l’Internationale situationniste, ou même un écrivain, Debord
s’est voulu enfant perdu, s’est reconnu parmi les enfants perdus.». Eis uma
visão «romântica» cuja pertinência hermenêutica pressupõe, sem dúvida, a
preponderância da vida sobre a obra. Mas são os textos, em primeiro lugar, e
não os actos, que temos de interrogar criticamente. A adopção desta posição
metodológica não invalida, contudo, a necessidade de uma articulação entre os
dois pólos, tanto mais que vamos discutir as ideias de quem, de si, um dia
disse que tinha vivido exactamente como pensava que se deveria viver.
Impõe‑se, pois, o projecto de uma
revalorização teórica do legado de Guy Debord. É possível cumpri‑lo de
várias maneiras, das quais, basicamente, devemos distinguir duas: (i) a via ontológica e (ii) a via histórico‑crítica.
Relativamente à primeira, há quem defenda, de facto, a possibilidade de um
resgate ontológico do pensamento debordiano. Embora não a possamos perfilhar,
queremos, desde já, discuti‑la, ainda que de uma forma sumária, com vista à
clarificação do nosso posicionamento. Ora, toda a ontologia, como é sabido,
pressupõe um recorte categorial da realidade, cuja expressão máxima se
estrutura habitualmente sob o império axiológico de um molde binário. Donde a
multiplicação metafísica de pares conceptuais. De Platão a Heidegger, passando
por Kant, alguns tornaram‑se célebres: (i)
sensível vs. inteligível; (ii) empírico vs. transcendental; e (iii)
ôntico vs. ontológico. Impõe‑se,
portanto, a questão: Será que podemos
assimilar a tal genealogia filosófica a oposição debordiana entre espectáculo e
situação? Num primeiro momento, dir‑se‑ia que sim. Realmente, se o espectáculo
é a «organização social da aparência», o seu reverso, a situação, enquanto
vivência autêntica, talvez justifique uma leitura essencialista. E se bem que
esta aparente um ar sedutor, não nos parece, no entanto, legítima. Aceitá‑la,
aliás, acabaria por significar a inscrição dessa antinomia radical num registo
sincrónico, com a consequente admissão de uma eventual reconfiguração
situacionista dos elementos do sistema espectacular vigente. Como é bom de ver,
trata‑se de uma hipótese reformista que, além de ignorar os riscos de
espectacularização de todas as reconfigurações criativas das actuais condições de
vida, rasura por completo a aposta revolucionária de Guy Debord. Para a
respeitar, pelo contrário, é preciso ler diacronicamente o binómio espectáculo‑situação, o que nos remete
imediatamente para a segunda via, i.e.,
histórico‑crítica. No caso de Anselm Jappe, assistimos à tentativa de filiar o
discurso debordiano (em cujo autor «não se encontra nenhuma tentativa de fundar
uma ‘ontologia’») numa linhagem iluminista, de que a análise marxiana da
economia política constitui o expoente. Sob a égide da «nova crítica do valor»,
valoriza‑se a «teoria do espectáculo» como um dispositivo analítico
incontornável do nosso tempo. Assim sendo, há que evitar, quando se discute a
noção de espectáculo, dois equívocos que habitualmente se cometem: (i) a crença de que estamos a lidar com
um termo estritamente empírico, cujo campo de aplicação se restringe à área
sociológica dos mass media; e (ii), de uma forma inversa, a convicção
de que se trata de uma ideia metafísica — a desvalorização ontológica das
imagens —, da qual, aliás, ninguém ignora a ascendência platónica. Guy Debord, porém, nem é Platão nem
McLuhan.
Não nos parece legítima, todavia, a redução da bagagem filosófica de Guy
Debord a um único livro: A Sociedade do Espectáculo.
Trata‑se de uma falsa imagem da sua obra. Nela assenta, ademais, um obstáculo à
compreensão da radicalidade do seu programa estético‑político — o situacionismo
—, cuja aposta revolucionária implica a ultrapassagem do plano da pura
negatividade, apelando, pois, para o movimento utópico e construtivo de um
pensamento que se confronta irremediavelmente com a positividade morta da
tradição.
Eurico de Carvalho
In O Tecto, n.º 75 (Outubro de 2012), pp. 2/15.
Etiquetas: ENSAIO, Guy Debord


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




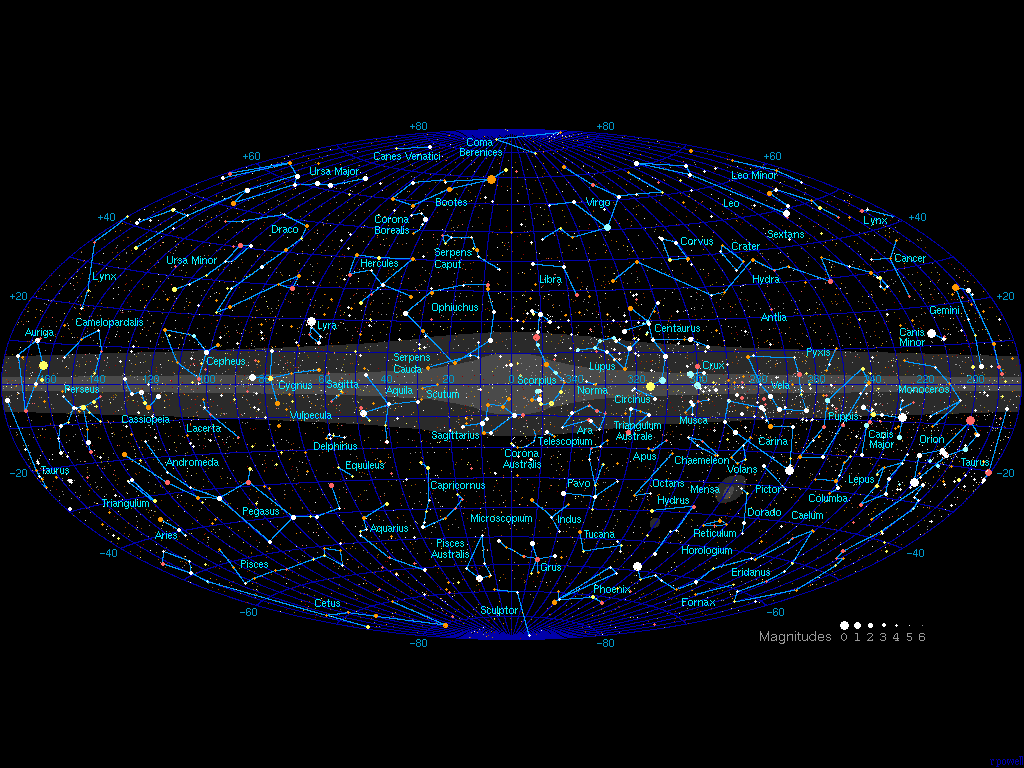
0 Leituras da Montr@:
Enviar um comentário
<< Home