PARA UMA NOSOGRAFIA DO SISTEMA DE ENSINO
Um
primeiro passo para a vera reflexão pode ser — simplesmente — a humílima tarefa
de ouvir as palavras, retirando-lhes o pó do hábito que nos cega para o seu
batimento cardíaco. Atentemos tão-somente em dois vocábulos: educação e escola.
Haverá melhor lugar do que um espaço filosófico — pergunto eu — para refletir
sobre o seu significado? Comecemos, pois. Que deve entender‑se por educação?
Consultemos a etimologia: verifica-se a presença de «ducere», que em latim
significa «conduzir». Assim sendo, a educação não é senão a condução do homem.
Mas o ato de conduzir implica saber «onde se está» e «para onde se vai». Por
outras palavras: a educação pressupõe um princípio fundamental e uma finalidade
última. A sua determinação exige que se responda à sequente questão:
—
Por que razão o homem precisa de ser conduzido?
Isso
resulta apenas do facto de ele não surgir enquanto tal, ou seja, enquanto
homem. Na verdade, o homem só se faz homem no meio de outros homens. Sem a
condução de outrem, portanto, a qual se cumpre em nome de um certo ideal, o
homem nunca poderia vir a ser o que realmente é: o único ser cuja natureza está
na sua história. É própria do homem a falta original de algo que lhe seja
naturalmente próprio. A sua indeterminação nativa — a sua miséria à
nascença — é, pois, o princípio fundamental que justifica a existência da
educação, cuja finalidade última salta à vista: tornar o homem humano.
Não o sendo imediatamente, refém inicial relativamente à humanidade, o homem
tem na educação o «medium» da sua humanização, que o orienta para o destino que
é o seu: realizar-se a si próprio. Quer isto dizer, todavia, que há
certamente o perigo de que ele não se torne o homem que é, que é próprio do
homem correr o risco não só de não ganhar, mas perder a sua condição humana.
Está a inumanidade atrás de si, sem dúvida, nessa figura imediata, infante,
quase límbica, mas igualmente à sua frente, porventura liberta pela terrível
imaginação de quem não sabe onde está nem para onde vai.
Agora,
auscultemos o coração de um antiquíssimo lexema impoluto, mas que hoje,
infaustamente, se tornou presa da hábil demagogia da alegre tribo internacional
dos tecnocratas. Quero dar-vos a ver um signo helénico, que se tornou, pela via
da sua latinização em schola, um termo universal, e cujas
ressonâncias civilizacionais merecem a mais atenta escuta. Afinal, se
prestarmos atenção à substância do étimo grego, será nosso o espanto, quando
descobrirmos que o seu significado original aponta para a «ocupação de quem se
encontra em descanso». Em si mesma, é verdade, num tempo que cultiva
obsessivamente o trabalho, parece paradoxal a expressão. Qual poderá ser, de
resto, essa atividade de quem permanece em repouso? Como pode estar ativo um
sujeito que, aparentemente, nada faz? Avolumam-se as perplexidades, porque
vivemos num meio cultural que privilegia falsas oposições, de que o binómio lazer/labor
constitui a súmula insuportável. Para que lhes possamos responder, urge
imolar estereótipos e preconceitos mediáticos. Há todo um espaço mental
atravancado pela velha mobília do «aparelho ideológico do Estado». Há que
limpá-lo, o que exige, pelo menos, a tremenda audácia cinzenta de um adversário
hercúleo do dispositivo audiovisual de controlo cor-de-rosa das almas.
Expulsemos, então, da nossa casa maior, a do pensamento, a criada de
servir do poder! Não sejamos tímidos! Agarre-se a senhora pelo colarinho da
estupidez, dando-lhe como destino o caixote do lixo! Realmente, para devolver o
brilho original do santuário da cultura, não nos resta senão a longínqua
possibilidade de uma ruína do espetáculo. Assim, se quisermos dar razão à
língua natal do «amor ao saber», ter-se-á em mente a escola como «lugar do
ócio». Tomá-la enquanto tal, neste século absurdo de um capitalismo triunfante,
é já, sem dúvida, um ato de desobediência civil, tanto mais que nós,
professores, queremos honrar diariamente essa agência maior da sociedade, pese
embora a série fúnebre de fatores que ameaçam a sua integridade funcional: (i) a proletarização da classe docente; (ii)
a desnaturação clientelar da relação pedagógica; (iii) a subversão
assistencialista do paradigma escolar; (iv) a mercantilização dos valores
cognitivos; (v) o inverno demográfico; e (vi) a desqualificação das funções sociais
do Estado. Não há que ver nesta lista, no entanto, uma enumeração
exaustiva, da qual, naturalmente, adviria o rompimento dos estritos limites de
um simples artigo.
Ora,
pesar a legitimidade das consequências desse mesmo ato de desobediência civil
significa a recusa militante de todo o discurso neoliberal, responsável por
esse ominoso incremento de uma política de mercantilização do sistema de
ensino. Mas a escola não é uma fábrica, o que não implica que a atividade
ociosa de quem nela habita se confunda com o exercício da preguiça, esse
indigente intervalo entre duas jornadas de puro embrutecimento do espírito.
Pelo contrário, o ócio apela para o que há, na humanidade do homem, de
essencial: a disponibilidade para aprender e pensar. Consequentemente, querer
alimentar o negócio — o que nega o ócio — a partir de uma desnaturação
empresarial do universo escolar é próprio de fariseus. Tanto a escola como a
fábrica são máquinas de projetar imagens sobre o mundo. Que a segunda esmague
ideologicamente a primeira, eis o desastroso estandarte dos tempos que nos
coube viver. Derrubá-lo é, por certo, não só um imperativo moral, mas uma
exigência estética.
In Vaca Malhada, Revista de Filosofia, nº 4 (Verão de 2015), pp. 23‑24.
Etiquetas: CENA DIDÁCTICA


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




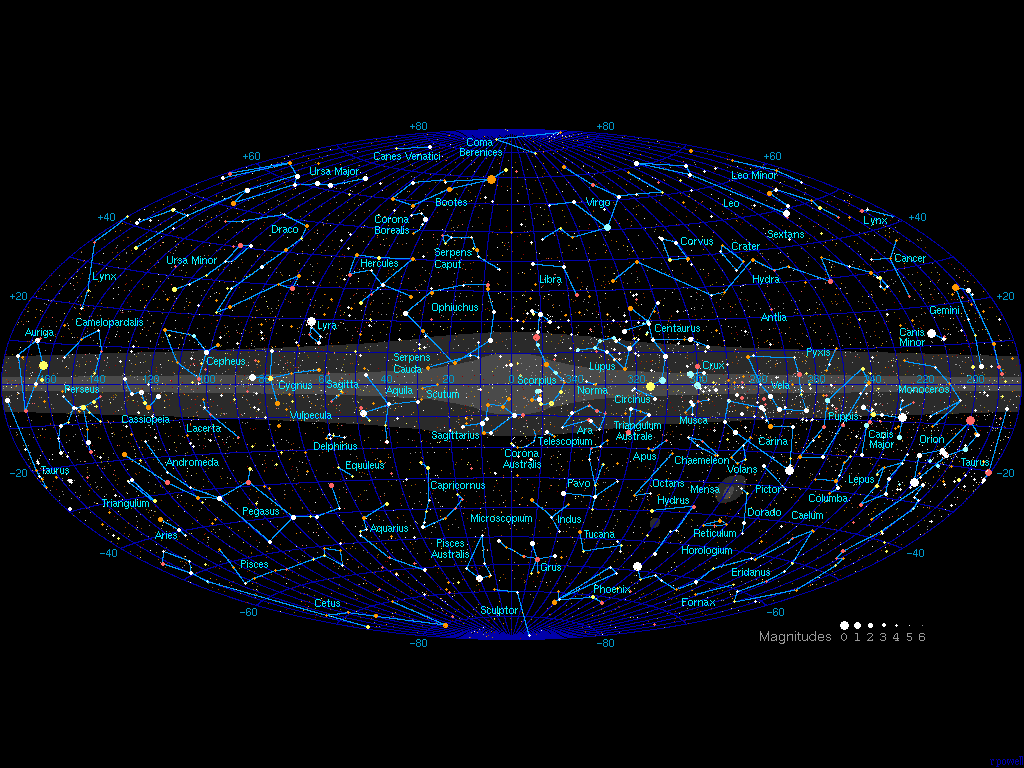
0 Leituras da Montr@:
Enviar um comentário
<< Home