O ESPAÇO E O TEMPO
«Le Désir est
désir de l’absolument Autre.»
E. Lévinas
O fio condutor do meu pensamento começou por ser uma pergunta:
— O desejo viaja no espaço ou no tempo?
Neste século dominado pela política, a resposta que mais seduziu as consciências foi, sem dúvida, a do marxismo. Ora este, ou melhor, a sua actualização histórica, o leninismo‑estalinismo, revelou-se incapaz, ao optar pelo espaço, de pôr em dia os direitos da subjectividade, que ultrapassam de longe os caprichos da psicologia, pois têm um estatuto ontológico. É claro que estranha esta linguagem quem se habituou a conceber o «eu» nos limites da pura — para não dizer «arbitrária» … — interioridade. Mas antes de ser para si, a subjectividade (no entendimento, por mim subscrito inteiramente, do filósofo de que retirei a epígrafe) é para outrem.
O amor não pode nunca ser objecto de uma qualquer «reforma agrária». Por outras palavras, já não tão poéticas, a distância que separa o desejo da necessidade não é uma distância que possa ser medida ou localizada. Pois bem, o grande erro do marxismo (e não propriamente de Marx, que sempre escapou à tentação — ao invés dos seus antigos amigos de Berlim — de inscrever o amor no reino da totalidade necessariamente dialéctica, como se pode verificar pela leitura d’A Sagrada Família) consistiu exactamente na atribuição de uma dimensão histórica à diferença, inelutavelmente ontológica, entre desejo e necessidade. «Só que — como diz, e bem, esse injustamente desconhecido ensaísta nortenho: o Nuno Teixeira Neves (cf. pág. 54 da sua obra: Por um Novo Príncipe com Orelhas de Burro) —, em termos políticos, é impossível socializar o tempo, a não ser que façam como fizeram os comunistas da Albânia, que o socializaram pela sua transformação em espaço».
O desejo viaja no tempo, porque nele encontra o seu verdadeiro elemento. Sim, o tempo, mas tal como o entende Lévinas, isto é, enquanto «relação com a alteridade inatingível». Assim, o desejo emerge da impossibilidade de conhecer o outro como outrem. Com efeito, conhecer não é senão reduzir o Outro ao Mesmo, o desconhecido ao conhecido, segundo o princípio cartesiano da transparência.
Espacializar o tempo — e este movimento, ao cabo e ao fim, caracteriza o racionalismo ocidental, incapaz de pensar o tempo fora do espaço da geometria —, enfim, socializá‑lo, leva inevitavelmente ao rebaixamento do desejo, à sua inscrição no circuito económico das necessidades. E a este nível, para falar com propriedade, já não há lugar para o desejo, mas tão-somente para a sua degradação: o prazer e a sua indústria.
O mal do Iluminismo, cuja face mais significativa acabou por ser o marxismo, resultou da sua insistência na «panificação do espírito» — se me permitem esta expressão, tão rebarbativa! — em desfavor de uma correlativa «espiritualização do pão», a qual se torna cada vez mais urgente num mundo em plena industrialização. Em todo o caso, é bom ter em conta a inutilidade das igrejas nesta guerra entre o sagrado e o profano, entre o poético e o mágico. Na ocupação do espaço, as fábricas impõem-se: no entanto, uma boa resposta a essa política de habitação não passa em caso algum pelo aumento do número de igrejas. Efectivamente, à ocupação do espaço deve corresponder uma nova forma de habitar o mundo, de tal modo que este último possa ser tomado mais como adjectivo do que como substantivo. Só assim, de facto, segundo Agostinho da Silva, poderá vir a ser realidade esta nova forma de habitar o mundo. Eliminar-se-á então a estratégia de ocupação exclusiva em prol, julgo eu, não de uma (também exclusiva) preocupação, em favor de um autêntico diálogo ecológico entre ambas.
Em suma: à espacialização do tempo é preciso responder com a temporalização do espaço. A moderna politização da ética tornou incontroversa a necessidade de uma eticização da política, via indispensável para uma reabilitação do social (cuja crise é manifesta). A solução política já não encanta ninguém. Mas haverá outra? Qualquer resposta terá de determinar a natureza do que está em jogo.
«É extremamente importante saber — como refere Lévinas numa entrevista (cf. pág. 72 da ed. port. de Ética e Infinito), e cujo pensamento fundamenta a precedência e a preeminência do ético em relação ao político na anterioridade ontológica do ente sobre o ser — se a sociedade, no sentido corrente do termo, é o resultado de uma limitação do princípio de que o homem é um lobo para o homem ou se, pelo contrário, resulta da limitação do princípio de que o homem é pare o homem.» No primeiro caso, estamos perante uma concepção naturalista da sociedade, na qual a política se apresenta como um mecanismo auto‑regulador: no segundo, afirma-se a irredutibilidade da relação ética à dominação política. Esta última tese é a defendida por Lévinas. A sua filosofia é uma apologia do Infinito, da alteridade do Outro, Outro que não se confunde com a negação do Mesmo de que fala Hegel, pois trata-se da absoluta transcendência. Lévinas assume-se como o grande crítico da filosofia da totalidade — que tem o seu expoente máximo em Hegel —, da predominância do político e do Estado.
Quanto à «catástrofe do social» de que fala algures Baudrillard, à qual nos conduziu o voluntarismo iluminista, o que podemos dizer aqui é que ela representa não só o fracasso relativo da socialização do espaço, mas também o fracasso absoluto da socialização do tempo.
EURICO DE CARVALHO
In «O Tecto»,
Ano XII, n.º 25,
Janeiro/2000, pág. 8.


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




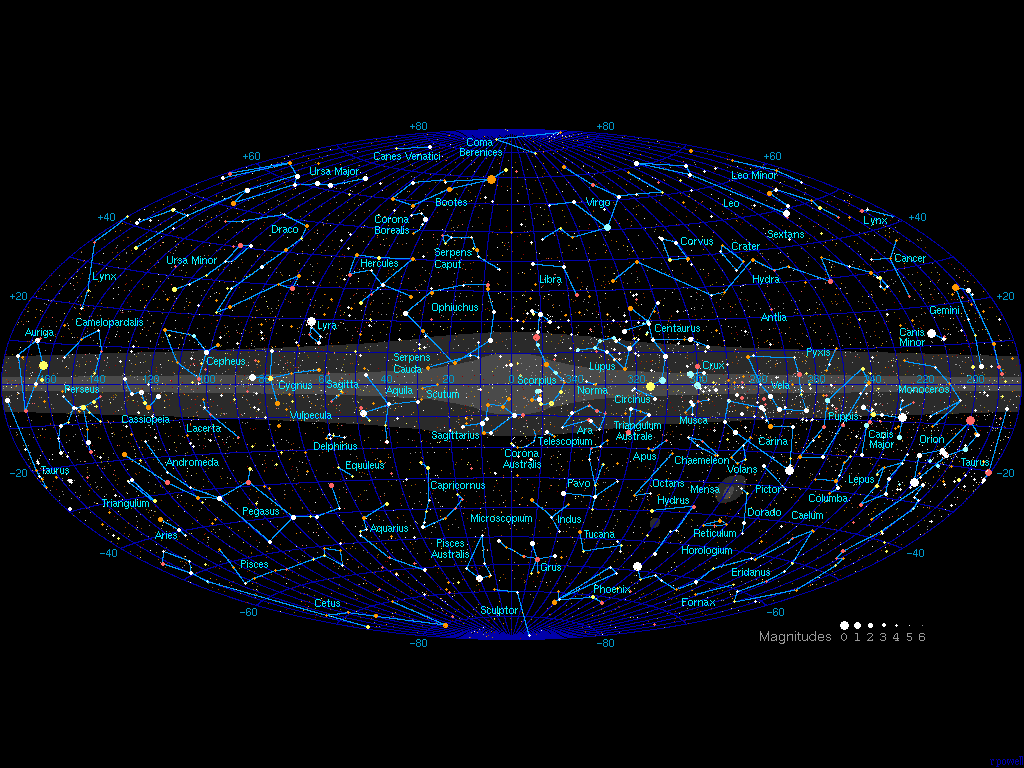
0 Leituras da Montr@:
Enviar um comentário
<< Home