O CENTENÁRIO DA REPÚBLICA
Por ocasião de uma estadia em Espinho, durante o mês de Julho de 1908, e sob o influxo do regicídio de 1 de Fevereiro do mesmo ano, o lúcido espanhol que era Miguel de Unamuno, amigo do infausto Manuel Laranjeira, deixou‑nos um impressivo fotograma do tempo lusitano de que foi ilustre contemporâneo. Para que o sabor do texto castelhano não se perca, vejamo‑lo, pois, na sua versão original: «[…] en las papelerías donde se venden postales se ve el retrato de Buíça, el regicida, junto al del joven rey Don Manuel, y hasta junto al de su padre Don Carlos, la víctima. Lo he visto aquí, en Oporto, en Aveiro. Y los retratos de los personajes republicanos por dondequiera, hasta en los rótulos de um nuevo licor. Es la moda.» Nesta moda, porém, revelava‑se já, pelo seu sulfuroso sincretismo ideológico, o apodrecimento de todo um regime, cujo óbito, sendo óbvio, exigia apenas a respectiva certidão revolucionária. De entre os que nela firmaram (com pouco sangue e suor, de resto) a solene assinatura, a 5 de Outubro de 1910, sobressai a de Afonso Costa, cuja acção governativa, de longo curso, tanto lhe deu a fama, segundo os seus inimigos, de temível jacobino e «mata‑frades», qual Átila do clero lusíada, como fez com que ganhasse, a partir de 1913, e junto do operariado lisboeta, o «tatcheriano» cognome — avant la lettre — de «racha-sindicalistas».
Mas a flórea disputa de epítetos, por muito sal que traga à prosa, parece‑nos estéril, sob a perspectiva de uma desapaixonada inteligência do passado. E em seu nome, aliás, todo o realce que merece a afonsina personagem, longe de ser o fruto aberto da acidez cirúrgica da sua oratória parlamentar (cuja acutilância culmina, em 1908, com a célebre e bombástica assimilação dos «adiantamentos» do Governo à Coroa a genuínos «roubos»), prende‑se inteiramente com a defesa estreme da bandeira maior do republicanismo radical: a Lei da Separação da Igreja e do Estado. Com efeito, em 20 de Abril de 1911, por decreto-lei, a República Portuguesa aboliu, de vez, o que ficou para a História como a «santa aliança do trono e do altar». Na verdade, abdicando de qualquer religião oficial, a República não se limita a cumprir uma exigência programática de mero alcance episódico; pelo contrário, encontra‑se consigo mesma e dá mais um passo — enorme e, porque não dizê‑lo?, irreversível —, no sentido da realização da sua natureza ideal.
Eis‑nos, então, perante a urgência reflexiva de responder à pergunta: De que falamos nós, afinal, quando dizemos a palavra «República»? Quais são, consequentemente, as condições necessárias e suficientes que a definem? Ora bem, o simples exercício da razão mostrar‑nos‑á a melhor definição, segundo a qual todo o Estado merecedor desse nobilíssimo título há‑de satisfazer, pela sua Constituição, quatro pré-requisitos fundamentais: (i) o sufrágio universal; (ii) a igualdade perante a lei; (iii) a independência mútua dos poderes legislativo, executivo e judicial; e (iv) a neutralidade confessional. Trata‑se, de facto, de um minimum constitucional, de cujo cumprimento decorre unicamente a atribuição de estatuto republicano a uma determinada organização política da sociedade.
Naturalmente, o princípio da laicidade, que regula a relação do Estado com a Igreja, não implica a negação do culto religioso nem o desrespeito pela liberdade de consciência. Com efeito, não cabe à República pronunciar‑se sobre a fé (ou falta dela…) dos seus cidadãos. Aliás, se o fizesse, estaria a submetê‑los a um directório espiritual, retirando‑lhes, por conseguinte, o pleno usufruto da cidadania, ou seja, a prática cívica e autónoma do pensamento e da acção. Nesta medida, um Estado que assumisse apologeticamente o ateísmo, por exemplo, nem sequer poderia ser laico. Por outro lado, qualquer forma de proselitismo, seja a favor ou contra o «partido de Deus», não pode ser acolhida pelas instituições republicanas, cuja responsabilidade objectiva, contudo, abarcando a res publica, não se deixa tolher por um absurdo ideal de assepsia axiológica. Tal tolhimento colide objectivamente com a via única de realização da República, a democracia, e o seu superior horizonte metafísico, isto é, a dignidade da pessoa.
Por muita transparência, no entanto, que busque a República, sob o impulso — que lhe vem do futuro — da sua essência democrática, isso não significa, hélas!, que não seja sempre estreita e frágil a faixa que separa o cidadão do súbdito. E se os primeiros republicanos se empenharam na defesa de um novíssimo aparelho icónico que definisse a identidade da Pátria, cujos hino e bandeira se alteraram radicalmente, isso deveu‑se tão‑somente à ideia de uma mesma economia da imagem que tem dominado a consciência dos homens de todos os tempos. Nela parece assentar, de facto, a singular potência do poder que enfeitiça quem se lhe submete. Como diz Dominique Quessada, «em matéria de poder e, portanto, de submissão, a ritualidade excede sempre as doutrinas e a [influência] emblemática, a convicção racional». Na realidade, não há poder, seja qual for a sua natureza, que, em nome da eficácia, não se rodeie de todo um aparato cénico e simbólico, cujo impacto sobre o vulgo nunca deve ser subestimado. Sem que tenha qualquer justificação funcional, strictu sensu, a força barroca desses adereços e símbolos ultrapassa as possibilidades de uma explicação racional. Aí reside, enfim, nessa ultrapassagem da razão, o segredo de uma potência que, agindo sobre os corpos, apela (se nos é permitido o uso de um termo de Henry Thoreau) para a «servidão voluntária», i.e., para a transformação dos senhores em escravos.
Eurico de Carvalho
In «O Tecto»,
Ano X, n.º 67,
Junho/2010, p. 2.
Junho/2010, p. 2.
Etiquetas: ENSAIO


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




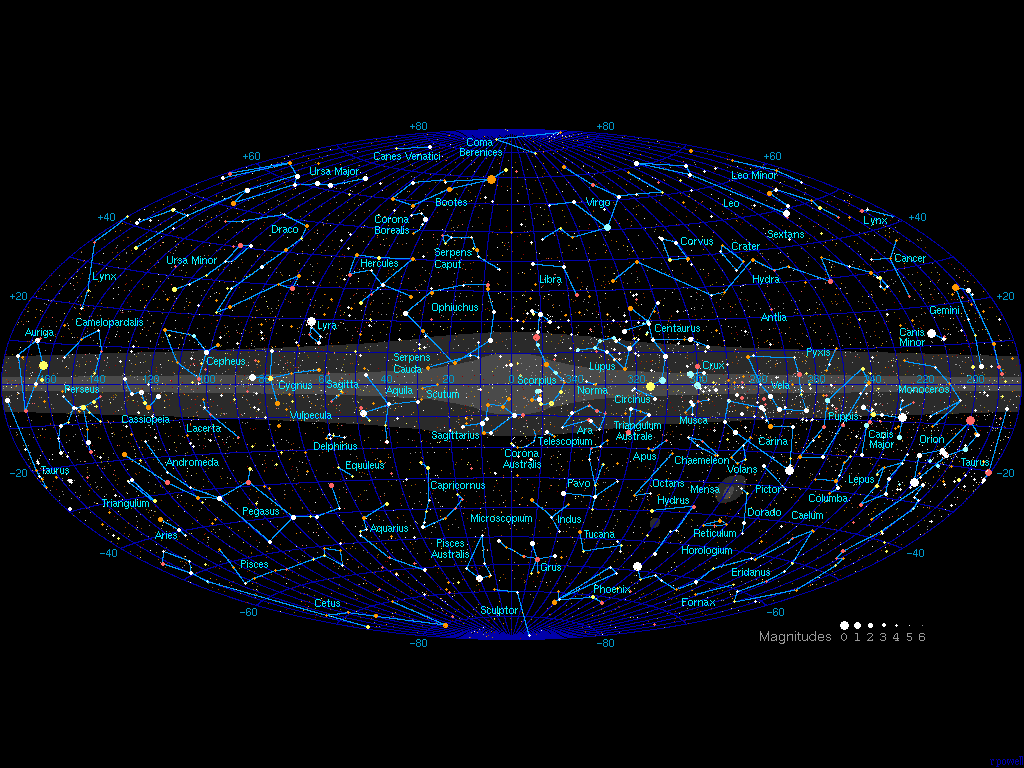
0 Leituras da Montr@:
Enviar um comentário
<< Home