O ANJO, O TURISTA E O VAGABUNDO
De um bestiário se trata. Para falar com verdade, talvez lhe caiba o título de tipologia psicossociológica. Nela podemos encontrar três figuras, ou melhor, idealizações, no sentido nietzschiano do termo. Ei‑las: o anjo, o turista e o vagabundo, ou seja, «psicologicamente» falando, a vontade, o prazer e o desejo. É fundamental esta distinção, que está longe de ser um artifício da linguagem, entre os domínios do prazer e o desejo. Com efeito, se é um facto que não desejamos sem que haja a possibilidade (mesmo remota) do prazer, há prazeres que dispensam o desejo. Actualiza o turista, aliás, esta virtualidade animal: a de existir prazer sem desejo.
Quem é o anjo? A sua sombra tem a espessura do pensamento platónico e dos seus descendentes: o pensador cartesiano – que faz de conta que não tem corpo –, o princípio kantiano da hipersubjectividade, que foi alvo de troça por parte de Hegel, e por aí adiante. O anjo é pura vontade, i.e., vontade de ter razão. (Como se sabe, razão é sempre vontade de a ter; daí o voluntarismo de que padece o Iluminismo.) Ademais, como nos revela Piaget – que teve sempre em vista a biologização e psicologização de Kant –, a vontade é o verdadeiro equivalente afectivo da racionalidade.
Quem é o turista? É essa figura contemporânea que leva a cabo a redução fisiológica do corpo, confundindo este com o organismo. Ora, o corpo humano (como muito bem viu Freud, pelo menos segundo Lacan) é linguagem.
O turista sofre de uma doença diagnosticada por Marcuse: «dessublimação repressiva». De facto, parafraseando Barthes, o fascismo não consiste propriamente na repressão do desejo, mas sim na obrigatoriedade de desejar, de determinada maneira,
isto ou aquilo. O capitalismo despolitiza o desejo ao reduzi‑lo à condição de mero prazer, retirando‑lhe assim a sua potência subversiva intrínseca. À despolitização do desejo corresponde a sua entrada no circuito económico, no reino da falta, isto é, da escassez, sujeita necessariamente às leis da oferta e da procura. Deste modo nasce uma das mais florescentes indústrias do nosso tempo – a do prazer. Alimentam-na os turistas, nova legião. Realmente, o prazer e a morte são os dois grandes negócios do século XX.
Quem é o vagabundo? É quem escreve – no sentido barthesiano do verbo – «segundo a verdade do desejo». Mas sabendo também, como nos indica Barthes ainda, que o «desejo é mais forte do que a sua interpretação». O desejo sem interpretação, liberto de qualquer leitura canónica (cristã, psicanalítica ou outra), é o sonho do vagabundo. Efectivamente, todo o discurso arrisca-se a ser o discurso do poder, engendrando assim a culpa e a culpabilidade naquele que o ouve.
Se o desejo é o desejo do Outro (genitivo subjectivo), é porque, como diz Barthes, «o meu corpo não tem as mesmas ideias que eu». Mas se o desejo é também o desejo do Outro (genitivo objectivo), então o acto de desejar pode ter como risco a queda no conhecimento: a redução metafísica do Outro ao Mesmo. Daí a recusa da autoridade do Discurso por parte do vagabundo: há que manter nietzschianamente o «pathos da distância».
O desejo resulta da intersecção da linguagem com a vida. No entanto, considera Barthes, «a ciência é grosseira» e a «vida é subtil». Em certa medida, na exacta medida em que há uma distância intransponível entre a realidade pluridimensional e a unilinearidade da linguagem, dizer o desejo é traí-lo, porque não existe (nunca existiu) medida certa para o desejo, pura desmedida. Só na poesia essa traição se torna tradução. Apenas o poeta poeta pode dizer o que há de indizível no desejo, o qual não pode deixar de dizer‑se (sob pena de desumanização/«dessimbolização») através do «circuito longo da libido» (cf. F. Dolto).
Por tudo isto, só o poeta pode ser vagabundo. Apóstolo do múltiplo, não dá guarida às várias máscaras do Grande Uno. Não espanta assim a sua expulsão da cidade platónica, lugar de anjos e turistas, de igrejas e tabernas. Enquanto o anjo fala somente uma língua, a da metafísica, e – tal como o pensador no seu quarto aquecido – faz de conta que não tem corpo, o turista, por sua vez, não fala nenhuma, refém do «circuito curto da libido», isto é, curto‑circuitado. Muito pelo contrário, o vagabundo fala várias línguas, atravessa inúmeros países e descura as fronteiras.
Que é a experiência do mundo senão o absurdo da inércia se não for resgatada pela linguagem? Ora bem, a experiência do turista tem os limites de um bilhete‑postal ilustrado. Ele ignora que só se viaja no tempo através do desejo, dialogando com a memória e o imaginário. O resto são roteiros de agências de viagens – o êxtase do espaço e do imediato: o prazer, uma mistura de despropósito e movimento.
O turismo é a «museificação» do mundo, uma estratégia global de «folclorização» da Terra. Por outras palavras: estamos perante uma recusa concertada do carácter trágico da existência. E neste projecto de transformação do mundo, em que este se faz mundano, o jornalismo assume claramente um papel ideológico. Não é verdade que o jornalismo é pura tagarelice? E não é esta, segundo o Heidegger de «Ser e Tempo» (cf. § 35), um dos modos em que se manifesta privilegiadamente a inautenticidade do homem? E não é o jornalismo, que diz doentiamente o ente, uma forma historicamente determinada do «esquecimento do Ser»?
A alteridade do Outro não é respeitada pelo turista, mas sim diminuída sob o signo do exotismo. Sendo um ser do espaço, apenas vê no Outro o seu traje «folclórico». O jornalismo (em especial, na sua vertente dita «sensacionalista») é bem a marca literária desta atitude do turista, que caracteriza genericamente o Ocidente.
Ao peso dos anjos contrapõe-se agora a leveza dos turistas. Como se relaciona aquele com esta? Antes de responder, convenhamos que não há pureza no real mas tão‑somente mistura, como já o sabia Anaxágoras. De anjo e turista, tal como de louco, todos temos um pouco – ou muito, conforme as forças e a circunstância. Em todo o caso, o conflito entre o peso e a leveza nunca poderá ser resolvido ou superado, a não ser que o Céu desça à Terra. Na medida em que não se vislumbram as suas condições de possibilidade, a síntese é uma fraude filosófica, ou melhor, «governamental», como diria Proudhon. Ao contrário do que pretendia Hegel, a reconciliação não é, de maneira nenhuma, possível. Não considero, pois, a vagabundagem como uma espécie de síntese do peso e da leveza. Isso seria fazer o jogo da dialéctica.
Tanto os anjos como os turistas – que assimilam o desejo a uma falta – desconhecem a verdadeira natureza de uma perspectiva trágica da existência. Sofrem por defeito e fazem da dor um argumento contra a vida. Daí a necessidade de haver «farmácias de serviço»: as igrejas e as tabernas. As primeiras facultam o remédio moral; as últimas, o anestésico.
Eurico de Carvalho
In «O Tecto»,
Ano XII, n.º 26,
Janeiro/2000, pág. 7
Etiquetas: ENSAIO


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




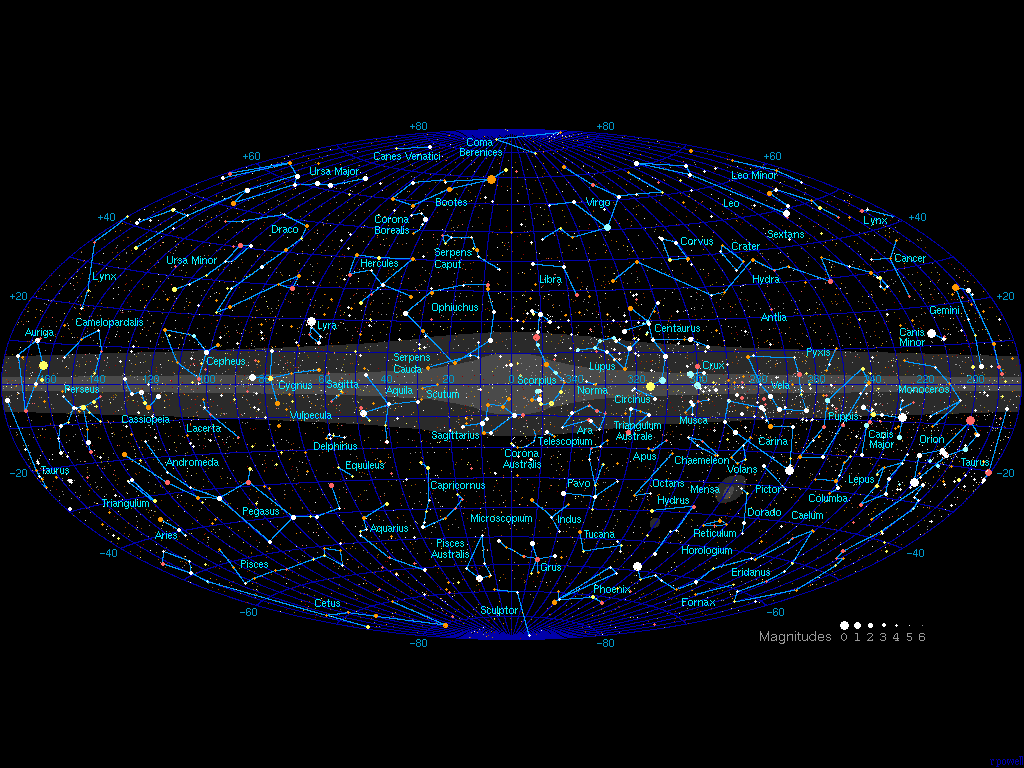
0 Leituras da Montr@:
Enviar um comentário
<< Home