CENA DIDÁCTICA [IX]
O PROFESSOR DE FILOSOFIA: ENTRE SÓCRATES E ALCIBÍADES [II]
Da lição kantiana se aproxima, por sua vez, a leitura heideggeriana do processo de ensino-aprendizagem. Dela, ou melhor, de um seu momento (cujo privilégio se justifica pelo destaque que aqui queremos dar ao primeiro membro do referido processo), faremos agora a citação (cf. Que Significa Pensar?). Ei‑la:
Ensinar é, com efeito, ainda mais difícil que aprender. Sabemos que é assim, mas nisso raramente se reflecte. Por que ensinar é mais difícil que aprender? Não é porque aquele que ensina deva possuir uma maior quantidade de conhecimentos e tê-los sempre disponíveis. Ensinar é mais difícil que aprender, porque ensinar quer dizer “fazer aprender”. Aquele que verdadeiramente ensina não faz mesmo nada mais do que aprender a aprender. É por isso também que a sua acção desperta muitas vezes a impressão de que, junto dele, falando com propriedade, nada se aprende. Porque então se entende inconsideradamente por “aprender” a simples aquisição de conhecimentos utilizáveis. Aquele que ensina apenas ultrapassa os aprendizes nisto: deve aprender ainda muito mais que eles, pois deve aprender a “fazer aprender”. Aquele que ensina deve ser capaz de ser mais dócil que o aprendiz. Aquele que ensina está muito menos seguro na sua tarefa do que aqueles que aprendem na sua. É por isso que na relação daquele que ensina com aqueles que aprendem, quando esta é uma relação verdadeira, nunca estão em jogo a autoridade do “multisciente” e a influência autoritária de quem tem um cargo. É por isso também que ser ensinador continua a ser uma grande coisa — e é uma coisa totalmente diferente de um professor célebre. Se hoje — em que nada é medido senão pelo que é baixo e segundo o que é baixo, por exemplo, o lucro — já ninguém deseja tornar-se ensinador, isso tem a ver, sem dúvida, com o que essa grande “coisa” implica e com a sua própria grandeza. Também esta aversão está ligada, sem dúvida, àquilo que dá o máximo que pensar.
Trata-se certamente de um excerto cuja riqueza hermenêutica não se esgota num único comentário, apelando até, ao longo deste artigo (cuja primeira parte se encontra no número anterior), para múltiplas paráfrases, dando, pois, que pensar. Sem obstar à pertinência desta ressalva, faz-se mister apontar para já, para concluir o primeiro andamento do nosso ensaio, a ideia-chave do discurso de Heidegger: a recusa da redução do ensino à estrita transmissão formal de conhecimentos. Efectivamente, na verdade da sua relação com quem aprende, quem ensina ultrapassa de longe o plano instrumental em que, de acordo com a óptica pragmática dos defensores das teorias da aprendizagem, se deve mover a acção docente — e cujo alcance simbólico ignoram por completo, porquanto “têm tendência para orientar o estudo do acto de ensinar apoiando-se nas condições de concepção e de utilização de máquinas de ensinar e desprezam as influências interpessoais que se exercem na situação pedagógica” (cf. Postic, op. cit., pp. 8-9). Dessa tendência se alimenta, em última instância, a utopia didáctica que se projecta em função do actual desenvolvimento tecnológico: o “sonho cibernético” de uma automação total do processo de ensino-aprendizagem, pela qual se tornaria inútil a figura do professor, o que seria, por outro lado, em conformidade com a lógica produtivista em vigor, uma mais-valia, economicamente falando, por força da diminuição dos custos em termos de “recursos humanos”. É de sublinhar, portanto, o significado tecnocrático de tal concepção utópica do processo de ensino‑aprendizagem, que bem merece o nome de distopia.
II
Por que razão o ensinável, na aula de Filosofia, não se reduz (como é o caso noutras disciplinas do “curriculum” escolar) a um mero problema pedagógico? Porque nela, qual espelho, se reflecte vivamente a própria essência do ensino, tal como acima a determinámos. São vários os sinais dessa reflexão. Não tem tantas vezes o aluno, junto do professor de Filosofia, a impressão de que, com ele, falando com propriedade, nada se aprende? Desta impressão discente resulta então a incontornabilidade da mesma questão de sempre: Para que serve a Filosofia? Haja a coragem de responder (com toda a honestidade intelectual): para nada, de facto, se a medida da aprendizagem for, como é actualmente, o grau de aquisição de conhecimentos úteis.
Da perspectiva do mercado e da sociedade que se rege pelas suas leis, é óbvio que a Filosofia não serve para nada, porque não cumpre nem pode cumprir nenhuma das funções, económica e ideológica, que justificariam, para além da sua existência institucional, a sua valorização social. Com efeito, ao contrário da ciência, não funciona tecnicamente como força produtiva; por outro lado, ao invés do direito, não cauciona normativamente o ideal de produtividade do capitalismo (sobre este assunto, cf. Sousa Santos, A Crítica da Razão Indolente, p. 111). Neste contexto, compreende-se que Heidegger tenha justamente elogiado a Filosofia, na sua essência, pelo facto de ela ser inactual, cabendo‑lhe portanto o destino de “nunca poder encontrar uma ressonância imediata no seu próprio presente”. Hoje, é certo, serão raríssimas as coisas cuja actualidade não seja o mercado. Enquanto mercadoria sujeita a “ditadura da opinião pública”, também o saber, agora reduzido a moeda corrente da informação (quanto mais actual, claro está, melhor!), não escapa à corrupção capitalista da função simbólica. Escapa‑lhe, porém, a Filosofia (ainda que não o professor, capturado pela sua função profissional) por ser imune a qualquer tentativa de redução à actualidade, pois ela não constitui um saber que se possa adquirir e aplicar directamente, isto é, à semelhança dos conhecimentos técnicos. Por consequência, não é possível avaliá‑la a partir de critérios estritamente utilitários.
Estando em jogo um saber sem qualquer valor de troca, porque não se possui mas se procura, fazendo assim jus ao seu nome, o problema da sua ensinabilidade não pode ser resolvido de um modo didacticamente neutro, ou seja, apelando apenas para a comensurabilidade entre conteúdos programáticos e competências cognitivas. Quer isto então dizer que não estamos perante uma simples questão didáctica: como ensinar Filosofia? Sem questionar previamente o que é ensinável, filosoficamente falando, nem sequer faz sentido colocá‑la. Enquanto questão, portanto, é o ensino da Filosofia, antes de tudo, uma questão filosófica. Foi Kant, indiscutivelmente, quem, pela primeira vez, a tomou como tal, colocando-a com toda a clareza e distinção. Seguindo a tomada kantiana da dita questão, podemos resumi-la nestes termos: primeiramente, o aluno habitua-se a adquirir conhecimentos que se “imprimem” (consoante a sua natureza, histórica ou matemática) quer na memória quer no entendimento; em seguida, em conformidade com as expectativas criadas por esta instrução escolar, “ele pensa que vai aprender Filosofia, o que é, porém, impossível, porque agora ele tem de aprender a filosofar”. Porquê? Porque, é claro, “para aprender também Filosofia, antes de mais, teria de existir realmente uma”. Não sendo o caso, no entanto, aquela, por oposição às restantes disciplinas, não lhe pode ser apresentada, sob pena de o enganar, como se nela houvesse, à semelhança da matemática, conteúdos definitivamente consagrados. Se assim fosse, de facto, “dever-se-ia poder apresentar um livro e dizer: vede, aqui está a sabedoria e o critério seguro; aprendei a entendê-los e a aprendê-los, construí seguidamente sobre eles e assim sereis filósofos”. Se bem que não haja tal compêndio, a sua existência, segundo Kant, não seria a solução do nosso problema. Na sua “Lógica”, finalmente, o filósofo alemão mostra a inteira raiz e magnitude da dificuldade inerente ao ensino da Filosofia: “Mas mesmo supondo que existisse uma [Filosofia], ninguém que a aprendesse se poderia dizer filósofo, porque o conhecimento que dela teria permaneceria subjectivamente histórico”, isto é, não teria sido activamente procurado através do exercício autónomo da própria razão, mas apenas adquirido, de um modo passivo, em conformidade com o dado exterior. Ora, se assim é, havendo nós mister de garantir a subordinação do ensino da Filosofia à natureza desta última, não podemos aceitar que aquele se confunda com a transmissão dogmática de informação. Em suma: o ensino filosófico da Filosofia não pode ser senão racional e nunca histórico (no sentido kantiano do termo).
Eurico de Carvalho
In «O Tecto»,
Ano XIII, n.º 33,
Julho/2001, pág. 2.
Etiquetas: CENA DIDÁCTICA


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




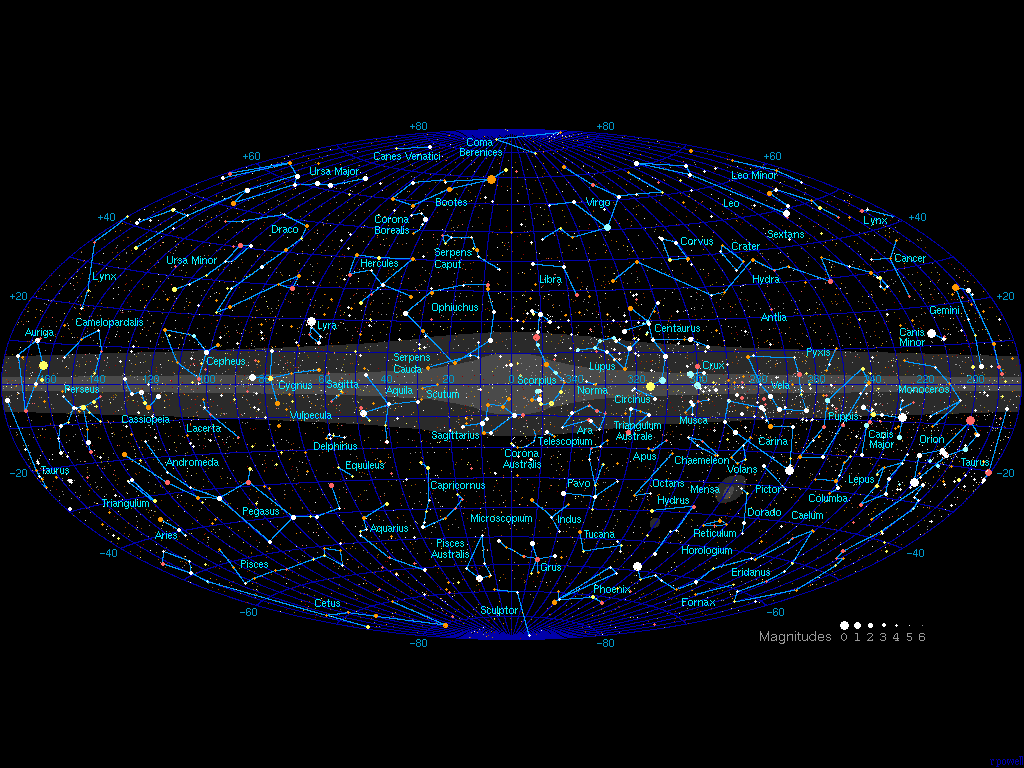
0 Leituras da Montr@:
Enviar um comentário
<< Home