AS AVENTURAS DE EROS
A urgência de pensar o erótico no exterior da dialéctica exige a passagem de Hegel a Nietzsche. «À famosa positividade do negativo, Nietzsche opõe a sua própria descoberta: a negatividade do positivo» (Deleuze). Deste modo, rejeitada a contradição, afirma‑se a diferença entre o que se vê e o que não se vê, o ordinário e o extraordinário, a ausência e a presença, o silêncio e a linguagem... O erótico decide‑se, por consequência, não no «trabalho do negativo», mas sim nessa diferença que nos constitui e que é a «morte da representação». Contrariamente à diferença platónica, trata‑se, acima de tudo, não de fazer a destrinça entre a cópia e o seu modelo, mas de questionar a pertinência heurística dos vários modelos em jogo e a sua função social. Esta é, sem sombra de dúvida, uma diferença verdadeiramente crítica, pois permite diferenciar o simbólico do folclórico, distinguindo assim o conceito do que não o é. Além disso, também dá condições epistémicas para pensar o «resto» (irrepresentável).
O erotismo, como se depreende do que já foi dito, é, na sua essência, um fenómeno fronteiriço: joga‑se no entre, que é sempre entre‑Dois... O ser do erótico, em última instância, não se manifesta senão naquilo que pode vir a ser. Melhor ainda: é, por assim dizer, o possível na sua possibilidade. E se o homem, na perspectiva de Bataille, é um «animal erótico», e se nele o erotismo é o que há de «mais problemático», é porque, como disse — e bem — o mesmo Bataille, repetindo Heidegger, o ser humano se revela na sua verdade enquanto «abertura ao possível». Por ser apenas uma possibilidade é que o erotismo diz respeito a cada um de nós no silêncio de uma busca intransaccionável. Pretender transformá‑lo num realidade socialmente transmissível, como se deduz, por exemplo, das propostas de Marcuse, isso é a sua perversão mais radical. «Que significaria isso — pergunta Châtelet —, uma civilização que propusesse uma erotização geral? É um programa platónico do avesso, tão abstracto como ele! Platão propõe um programa de deserotização; Marcuse propõe‑nos um programa de erotização. É a filosofia das sex‑shops!» Neste domínio, como é bom de ver, passar da possibilidade à realidade tem como único resultado a confusão do erótico com o pornográfico. Levar a cabo a redução do corpo ao organismo, confundir o gesto com a mão (como o fazem, cada um a seu modo, o anjo e o turista), isso significa que se reduz o desejo à necessidade. O desejo não pode ser socializado! O erro do marxismo — e de todos os iluminismos — resultou basicamente do desconhecimento do carácter ontológico da diferença entre desejo e necessidade.
Todo o pensamento ocidental está dominado pela ideia de efectividade: a actualização do possível. Ora bem, para impedir a «colonização da experiência» de que fala Habermas — a sua reificação pela esfera do trabalho e da técnica —, que eu traduzo, na minha linguagem, como sendo a toma da preocupação como mera pré‑ocupação, torna‑se urgente um «pensamento da distância». «A demora da técnica no labirinto humano implica a obrigação da ligação da técnica à experiência, uma composição que impeça a autonomia total do dispositivo. O que torna exigível uma distância entre a virtualidade abstracta do dispositivo e a sua realização total, que somente um pensamento da distância pode propiciar.» Estas palavras de J. B. de Miranda respiram a atmosfera de uma frase de Ser e Tempo — que é a chave do meu pensamento sobre o erotismo — e que passo a citar: «Acima da actualidade, está a possibilidade.» A erótica por mim proposta adere completamente a este pensamento da distância e assume com plenitude a diferença entre o simbólico e o técnico, a afectividade e a efectividade, o tempo e o espaço. Assim, se há quem defenda um pensamento mais «re‑ligioso», eu, pelo contrário, luto por um pensamento que dê também lugar ao «dia‑bólico» (que desata). De facto, tal como o entendo, é o diabólico que mantém o «sim‑bólico» (que ata) na sua di‑stância (se me permitem a hifenização do vocábulo), longe do folclórico (factor de inércia, i.e., que não ata nem desata).
Para Heidegger, a essência — não‑metafísica — da técnica não consiste na sua instrumentalidade. Por isso, o próprio Marx não compreendeu a essência da técnica, pois a sua filosofia ainda se mantém sob o jugo do antropologismo. «A técnica — diz Heidegger —, na sua essência, é algo que o homem não domina por si mesmo.» Isto não significa que estejamos, no entender do filósofo, subjugados por ela. O que ele afirma é que «ainda não encontrámos um caminho que responda à essência da técnica». Do ponto de vista heideggeriano (algo ambíguo, penso eu), a essência da técnica revela‑se como um modo de «alétheia» ou acontecer do ser, cuja figura epocal da modernidade decadente se intitula Ge‑stell. Ao contrário da «techné» dos Antigos, cujo desvelamento nunca se revela como uma agressão à «physis», pois entra em conivência com o acontecer que a constitui, a técnica dos Modernos — a partir do momento em que o subjectivismo cartesiano transformou a verdade em certeza (segura de si mesma) — afirma‑se como uma provocação generalizada da Natureza. Se Heidegger não é stricto sensu contra a técnica — como ele próprio diz numa entrevista —, lamenta, no entanto, que hoje só tenhamos «relações puramente técnicas». E é porque acredita na ideia — profundamente cristã e mística — de que no maior perigo reside também o que salva, ideia, essa, que está no cerne da sua problemática da «viragem» da história e da superação da modernidade, é porque acredita nisso, dizíamos, que Heidegger chega a dizer que vê na essência da técnica «a primeira aparição de um segredo muito profundo», ao qual chama Ereignis e que o franceses traduzem por «événement d’appropriation». Com efeito, o Gestell, segundo Heidegger, é como que o negativo fotográfico do Ereignis. A ambiguidade deste posicionamento conduz Heidegger, ao fim e ao cabo, ao fatalismo (cf. a sua última entrevista: Já só um Deus nos pode ainda salvar).
Por outro lado, a crescente importância do software em relação ao hardware — «o devir tecno‑lógico da técnica» (A. D. Rodrigues) — está a pôr em causa o esquema conceptual básico do marxismo, ou seja, a diferença, sujeita aos mecanismos da necessidade dialéctica, entre o económico e o simbólico, o qual, pelo menos nas interpretações mais economicistas do pensamento marxista, se confunde praticamente com o ideológico. «Em comparação com o devir tecnológico dos dispositivos técnicos, os meios de produção tradicionais parecem anacrónicos, não só em termos quantitativos mas do ponto de vista qualitativo, na medida em que aquilo que está hoje em jogo é a extensão à esfera do discurso da sua performatividade maquínica, anulando ou neutralizando assim a distinção clássica entre infra e superestrutura, entre as urgências económicas e o simbólico» (A.D.R.). É a informação que, ao tecnicizar‑se, i.e., ao transformar‑se, para falar com propriedade, em informática, passa a comandar a própria produção. Mais ainda: a produção de informação e a informatização do processo de produção, enquanto fenómenos indesligáveis, são a grande razão de ser das transformações que se operam presentemente no mundo.
E se o corpo também é linguagem não admira que, na época contemporânea, haja um devir performativo da corporeidade, cujo ser se vai dizendo de muitas maneiras. A moda é uma delas, talvez a mais marcante. E esta não é senão uma apologia perversa do olhar. (Abra‑se aqui um parêntesis para fazer de novo referência, ainda que ao de leve, a Heidegger, recordando que o modelo do «Dasein» é um modelo auditivo e não visual, típico da representação metafísica do mundo, em que este é dado sob a luz da clareza e da distinção. Já agora, sobre o que ficou dito, não será de mais ler o parágrafo n.º 250 da Aurora de Nietzsche.) Ninguém ignora com certeza o processo de espectacularização de que é vítima a imagem do corpo nos nossos dias. O suporte institucional deste processo organiza‑se em torno da publicidade, enquanto fenómeno «massivo» e maciço que atravessa a sociedade e o seu imaginário. O corpo surge neste contexto logotécnico como o veículo publicitário por excelência, cuja «mass‑mediatização» o transforma numa espécie de espelho planetário, no qual se vão reflectir os desejos de todo o mundo. «Um dos resultados mais evidentes desta redução da linguagem a uma técnica de informação e da sua autonomização é o esquecimento da historicidade da experiência, para em seu lugar instituir uma relação estratégica de natureza atemporal que visa a libertação da corporeidade das peias e das coacções da memória em relação aos entraves que a experiência inevitavelmente acarreta, nomeadamente em relação ao limite radical da morte» (A.D.R.).
Aliás, a historicidade autêntica, no sentido heideggeriano, implica necessariamente a antecipação da morte como sendo a possibilidade mais radical que se oferece ao homem que aceita a sua finidade. O que não deixa de ser escandaloso para o espírito do tempo que passa, cujo esquecimento voluntário da morte adquiriu contornos de imperativo categórico, de acordo com os ditames estratégicos de uma iatrologização do saber e do poder. «Na sociedade que é a nossa — diz A.F. Cascais, na sequência do pensamento de Foucault —, alicerçada num dispositivo panóptico que possibilita a vigilância permanente de todos por todos, o discurso médico‑político circula universalmente, definindo o novo valor moral da saúde e apontando as circunstâncias que contra ele atentam, desde o tabagismo à poluição.»
Na definição do humano, é forçoso reconhecer a predominância da memória — que o é, primariamente, do futuro (o mais importante dos três êxtases da temporalidade, para Heidegger, na determinação da historicidade). O que me traz à lembrança as seguintes palavras do filósofo da Floresta Negra: «O ser é o mais próximo. E, contudo, a proximidade permanece, para o homem, o mais distante.» É neste âmbito que eu digo que é erótica a diferença ôntica por excelência, a qual, do ponto de vista estritamente antropológico, talvez se possa traduzir, sem exagero, na diferença entre o feminino e o masculino, diferença, essa, que difere a nossa existência, que se faz e desfaz em nós próprios, pois o próprio de nós não é sermos UM mas DOIS ao mesmo tempo. Quando se substancializam tais noções, referindo‑se a cada um dos sexos, ao sabor das ficções sociais vigentes, empobrece‑se o ser do homem, que é sempre esse entre‑Dois — esse abismo irrepresentável.
Eurico Carvalho
Texto publicado em Outubro de 2002
no jornal «O Tecto» de Vila do Conde
(Ano XIV: N.º 38).
Cf. página 4.


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




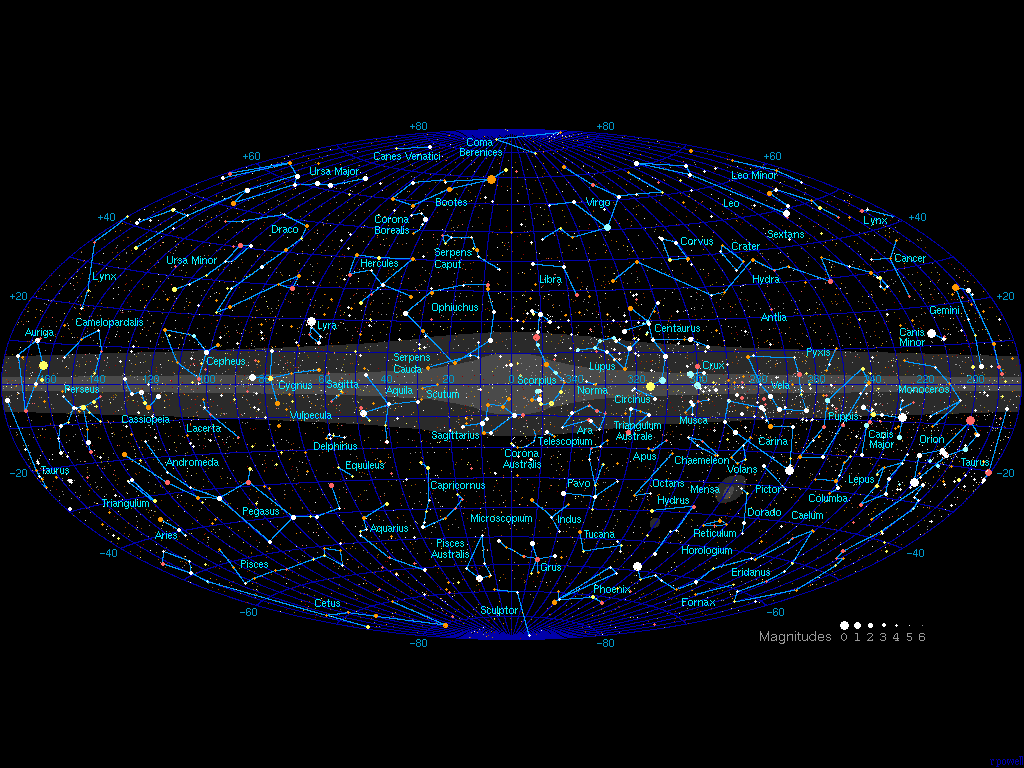
0 Leituras da Montr@:
Enviar um comentário
<< Home