CENA DIDÁCTICA [II]
Decorre neste fim‑de‑semana o IX Congresso do Sindicato dos Professores da Zona Norte. É caso para dizer: “Finalmente!” Com efeito, o mesmo foi objecto de um adiamento — e de cuja razão, matéria por de mais sulfúrea, não cuido aqui. Seja como for, ainda que não possa estar presente, sinto‑me obrigado, pessoalmente falando, a dar o meu contributo. Aliás, se o encontro tivesse sido realizado na data inicialmente prevista, teria feito perante os congressistas o seguinte discurso:
Por que razão estou eu aqui? A resposta é muito simples: porque fiz greve no passado dia 18 de Novembro de 2005. Quer isto dizer que não me revejo minimamente no Protocolo de Acordo entre o Ministério da Educação e a Federação Nacional dos Sindicatos da Educação. “Porquê?” — objectar‑me‑ão! Pois bem! Porque se trata de uma declaração de intenções absolutamente inócua, significando até, o que é mais grave ainda, a rendição sindical perante a deplorável alteração das nossas condições de trabalho. Mas em vez de devolver o cartão de sócio, o que teria sido uma solução excessivamente fácil, pareceu‑me mais curial dar corpo à minha voz de protesto. De revolta! De indignação! E que melhor cenário do que este para o efeito? Sempre fui — e sou! — pela frontalidade de uma crítica cuja assunção deve ter o palco que lhe convém. E este, caríssimos colegas, convém‑me imensamente.
Tenho dez minutos. Não me posso alongar pelos viçosos campos da pedagogia. Vou, pois, confrontá‑los com o essencial. Eis a tese: o tristemente célebre “despacho de Agosto” constitui a maior ofensiva contra a dignidade profissional da nossa classe de que há memória desde o 25 de Abril. Passo a explicar‑me: os efeitos de tal medida legislativa vão ultrapassar de longe tudo o que poderíamos pensar num primeiro olhar. Com a sua aplicação “ad hoc” e meramente casuística, sujeita até à arbitrariedade e incompetência de inúmeras chefias, desregulou-se por completo o quadro normativo inerente à função de professor. Digamo‑lo de uma forma crua: acentuar‑se‑á necessariamente a chamada “proletarização” da classe docente. Não vejo apenas neste fenómeno o que a maior parte de nós, tolhidos pela luta sindical de vistas curtas, vê: a degradação do nível remuneratório e correspondente desprestígio social. E porquê? Porque essa correspondência não é linear. Sejamos claros: atendendo à nobreza do múnus que lhes cabe assumir, os professores foram sempre mal pagos. Tempo houve, porém, no qual, apesar de ser parco o rendimento, havia respeito e admiração pela figura docente, i.e., enquanto representante fidedigno do saber. E todos nós sabemos, caríssimos colegas, que esta imagem do professor ombreava outrora, de facto, com outras duas figuras igualmente proeminentes: a do padre, que terá sido superada pela do psicólogo, e a do médico, cujo capital socioprofissional se mantém inalterado.
Face a tudo isto, caros colegas, importa centrar a atenção na escola, ou melhor, na nossa escola. Não sendo ela um corpo isolado, não pode senão reflectir as condições do seu meio. Enquanto instituição nuclear de qualquer regime republicano e democrático, à qual compete a formação de indivíduos capazes de assumir com seriedade e consciência o seu papel de guardiães da “coisa pública”, sofre inevitavelmente as consequências da mudança social a que hoje assistimos — e cujo significado, culturalmente falando, se resume à selvagem mercantilização do conhecimento, agora reduzido à moeda corrente da informação. Donde o impacto (quantas vezes negativo?) dos “media” nas salas de aula. Daí também a sensação de saturação e de sobreposição de espaços de aprendizagem que alimentam a conflituosidade no contexto da relação pedagógica. E só docentes cientificamente seguros e virtuosos poderão geri‑la em conformidade com o que deles espera a comunidade: fazer dos seus alunos cidadãos de corpo inteiro. E onde estão eles, esses professores capazes de resistir à erosão mediática dos saberes e às pulsões populistas do poder político? Quem são, afinal de contas, os professores dos nossos dias? Não serão eles também fruto da massificação escolar? Não serão eles também as primeiras vítimas de uma clara ausência de estratégia política para a educação? Perguntas que abrem a porta, sem dúvida, para algumas respostas desagradáveis e susceptíveis de desencadear reacções estritamente corporativas. (Perguntas que carecem obviamente de uma resposta que aqui não cabe.) Em nome do futuro da profissão docente, penso eu, não podemos, no entanto, ignorá‑las. Perante o avanço da mediocridade, de nada serve meter a cabeça na areia da indiferença.
A “cultura de exigência” de que tanto se fala não pode reduzir‑se a um mera palavra de ordem. É imprescindível lutar contra a desqualificação científica do corpo docente. Isso implica a recusa de toda a tentativa de desnaturação da dignidade intelectual da nossa profissão. Infelizmente, a produção legislativa dos últimos anos tem acentuado aquilo a que chamo a “funcionalização” da acção pedagógica, ignorando destarte o perfil do professor enquanto intelectual empenhado na transformação da escola e do mundo. Reconhecê‑lo significa reivindicar a revogação absoluta do “despacho de Agosto”, na medida em que ele, por um lado, alimenta uma ilusão absurda e, por outro, contribui decisivamente para a indefinição do nosso estatuto profissional. Falemos primeiro da ilusão: assim como o prolongamento da escolaridade obrigatória não se traduziu num aumento de conhecimentos e competências dos alunos, assim também a maior permanência de um professor na escola não fará dele um melhor profissional. Muito pelo contrário, vai prejudicar, sim, o desempenho dos melhores professores! Quanto ao nosso estatuto, digamo‑lo de uma vez por todas: o professor não é nem pode ser um “faz-tudo”. Quem tudo faz não é nada ou trabalha num circo!
Devemos avaliar o alcance socioprofissional do que acaba de ser dito: a dignificação da classe não passa nem pode passar pela normalização burocrática da sua actividade, mas pela institucionalização de um código deontológico. De facto, a constituição da profissão docente enquanto profissão verdadeiramente autónoma, ou seja, capaz de fundar a sua própria lei e com o poder de decidir acerca do modo como convém que se desempenhe a docência, não pode deixar de ser a condição sem a qual não será viável a recuperação do prestígio dos professores e do sistema de ensino.
Gostaria de terminar o meu discurso com uma nota pessoal: sou docente do Ensino Secundário há quinze anos — e não me contento com o derradeiro “rebuçado” com a que a tutela me presenteou. Falo, claríssimo está, da hora de redução relativa à componente do trabalho de estabelecimento. Quem se contenta com esse gesto politicamente correcto escamoteia completamente a dimensão “invisível” do serviço docente, o qual implica, como sabemos, para além da actualização científico-pedagógica, a preparação das aulas (a alimentação diária da cena didáctica!), a avaliação do processo de ensino e aprendizagem e, não menos importante, o trabalho reflexivo inerente ao saber/ser docente. Atendendo a tudo isto, é bom de ver que todo o professor digno da sua profissão desenvolve um labor intelectual cuja duração semanal ultrapassa de longe a que está prevista no Estatuto da Carreira Docente: as famigeradas trinta e cinco horas. Se a tutela tem dúvidas em relação à contabilidade horária, só tem de pôr um tacógrafo no meu ambiente de trabalho! O professor que há mim agradece! Para que nos respeitem, caríssimos colegas, temos de nos dar ao respeito! Tenho dito!
Eurico Carvalho
In «O Tecto»,
Ano XVIII, n.º 53,
Abril/2006, pág. 2.
Etiquetas: CENA DIDÁCTICA


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




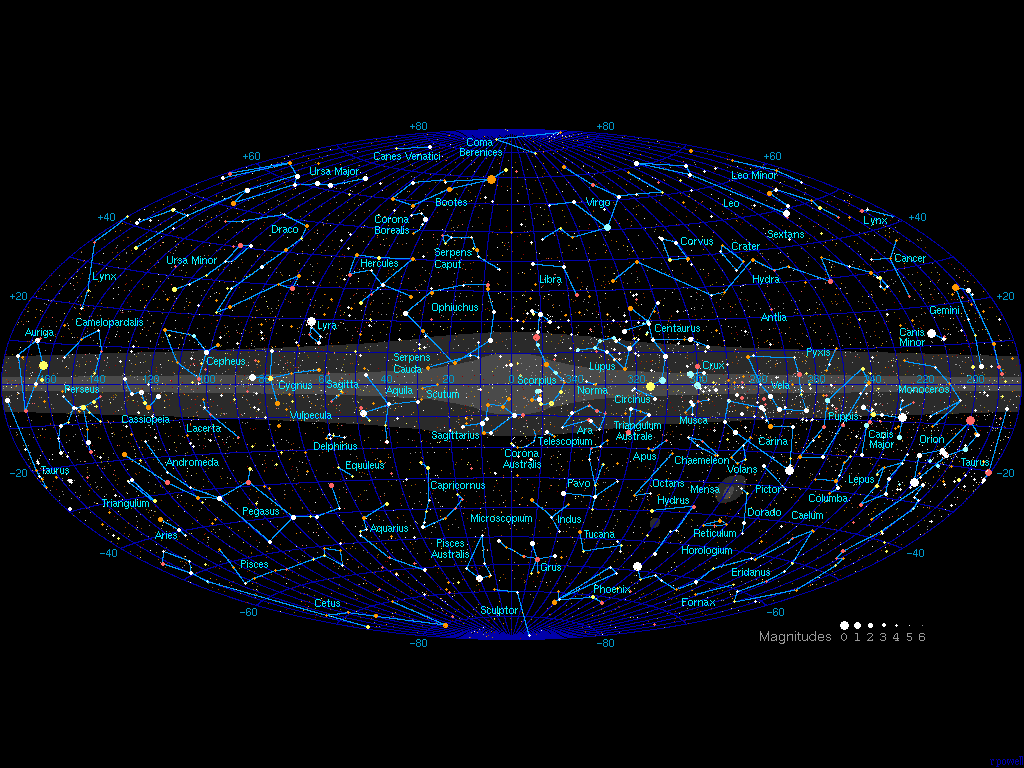
0 Leituras da Montr@:
Enviar um comentário
<< Home