PÁGINAS SOLTAS DO DIÁRIO DE UM LEITOR [II]
«Que a infância é estranha, é uma doença imóvel.»
H.H.
II
A RAPARIGA DE GANDRA
Paredes: 1974‑75
A Paredes devo o único quadro campestre da minha vida. Quando abro a janela de quem era, volto a estar lá: no meio dos pinheiros. Do seu cheiro forte ainda me lembro, perfume legítimo das merendas ao ar livre, e da apanha da caruma. Havia também as ervas do campo de Ti Ana. E um dia enchi‑me de importância. Era Janeiro. De foice na mão, quis ceifá‑las pela manhã. E, surdo ao bom rir de meus pais e irmãos, consegui! A mistura de suor e orvalho em que se mudou a camisa do corpo veio a ser, para desgosto mátrio, o troféu desse regresso, nunca mais cumprido, ao princípio das coisas. Mas tudo isto, agora que estou aqui, se tornou longe: sem volta possível.
A alma que tínhamos resultava com naturalidade do calendário agrícola. Crescia ao redor da alegria de certos acontecimentos fundamentais. Entanto se fez em mim, urbano, a sua permanência, fermento rural do imaginário.
A matança do porco (ópera dos pobres!) trouxe‑me a nova da morte numa bandeja de palha queimada. A desfolhada, o livro de cordel do amor. A vindima, o pisamento das uvas na adega do fim do mundo: origem viril do entusiasmo. Nesse Verão, o primeiro vinho era nosso e tão doce como os beiços das moçoilas que conhecíamos por mor do milho‑rei.
Outros motivos se inventavam para sair de casa: a recolha — por vezes temporã — das amoras silvestres, os mergulhos pouco higiénicos nos lagos pluviosos da bouça que por lá havia, além do jogo da malha e do eixo. Quando voltávamos, já cansados de tanta asneira, não nos faltava a força para a melhor de todas: levantar num volver de olhos as saias às raparigas do lugar.
São desse tempo os contos da Guiné de um tio meu que ficou meio doido por culpa da guerra. Não sei por que sonho, mais que o sangue, impressionou‑me a água suja das poças que, carneiros, bebiam por ser nulo o cantil da História.
Na escola, por falta de aquecimento, o frio dos montes escondia‑se nos dedos. Dava‑se por isso, sob o olhar calórico da «s’tora», a uma espécie de liturgia matinal com som de aplauso. Para lá da lousa e do giz, que festa!
Mas as mocetonas aldeãs de ancas sólidas, o tio que veio pateta de Bissau, o fluxo sanguíneo das palmas escolares (mesmo o lavrador que um dia justamente me desafiou com uma caneca de tinto!) — perdem‑se num nevoeiro quebradiço do qual emerge, negra, sem nome, a rapariga do título. A sua aparição explica‑se simplesmente pela malícia de querer brincar connosco. Tudo nela era preto, a roupa e os cabelos, longos e mal lavados. Tudo nela fugia como lebre enquanto fósforo, igual ao carvão que namora o petróleo. Sem que o soubéssemos, eram cravos já os seus treze anos.
In «O Tecto», Ano XVII,
n.º 49, Maio/2005, pág. 9


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




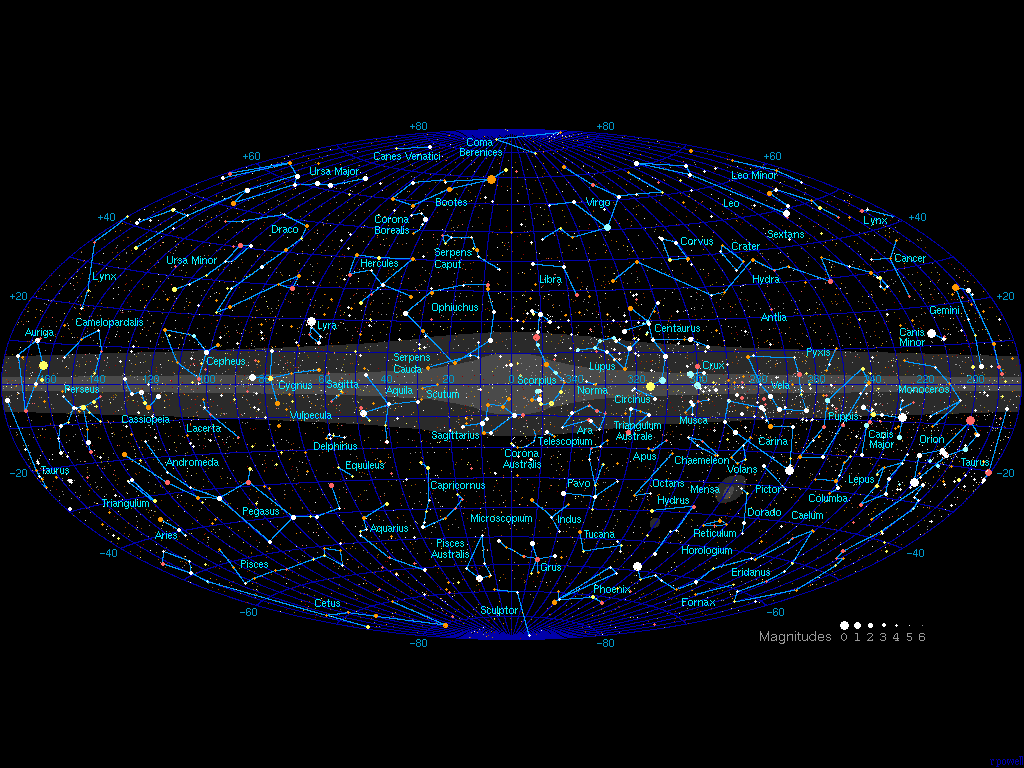
0 Leituras da Montr@:
Enviar um comentário
<< Home