POR ENTRE ANÚNCIOS E CARTAZES: O COMÉRCIO DA ATENÇÃO
(Nas vésperas de Natal, urge reflectir — pela enésima vez! — sobre o libertino apelo ao consumo.)
Quando se fala de publicidade, somos habitualmente confrontados com dois estereótipos de sinal contrário: ora se realça a figura da soberania do consumidor, ora se denuncia a sua insidiosa manipulação. De um lado, o dos «integrados», temos a histeria dos defensores do marketing, cuja base teórica assenta na ideia de auto‑regulação do mercado, sendo este, afinal, o lugar onde os consumidores, através do seu poder de compra, exerceriam o seu «direito de voto»; do outro, o dos «apocalípticos», emerge a paranóia de uma certa crítica do mundo contemporâneo, para a qual a ubiquidade da propaganda comercial há‑de significar realmente a sua omnipotência, vendo nela o fruto, por assim dizer, de uma imensa teia conspirativa das grandes empresas multinacionais. Enquanto aqueles se revelam absolutamente incapazes de explicar a razão pela qual o consumo que a publicidade induz se furta (num quadro comportamental contrário ao que seria de esperar da racionalidade do homo œconomicus) à contabilidade de custos e benefícios, os críticos do marketing, por sua vez, julgando que os consumidores são levados a desejar aquilo de que não têm real necessidade, servem‑se, de uma forma acrítica, da oposição entre ser e aparência (juntamente com a denúncia, claro está, da subordinação daquele àquela), ignorando, sem dúvida, o essencial do fenómeno, ou seja, a emergência mediática do universo onde reina, qual imperativo categórico, a própria consciência sensível da necessidade. Como é bom de ver, pela simetria que as liga, as duas perspectivas anulam‑se mutuamente. Com efeito, nem o homem é esse ser que se entroniza em pleno delírio racionalista, nem tão‑pouco o podemos conceber nos moldes humílimos de uma cobaia pavloviana. Estamos perante um animal que se quer racional, realmente, mas cujo círculo de acção se orienta, afinal, segundo a lição freudiana, pela singular astúcia da racionalização.
Para que serve, enfim, o discurso publicitário? Para informar os consumidores ou alienar os sujeitos? Tal como se apresenta a disjunção, que ingenuamente aspira a ser exclusiva, tanto a tese «antropológica» como a «semiótica» não são senão, se nos é permitido o uso de uma terminologia hegeliana, determinações abstractas do pensamento. (Embora tenham alguma pertinência, perdem‑na, de todo, quando pretendem ocupar a totalidade do campo explicativo.) Por um lado, perfilhar a primeira hipótese corresponde, segundo Marx, à defesa de uma velha ilusão: «a fictio juris de que qualquer pessoa, como compradora, possui um conhecimento enciclopédico das mercadorias»; por outro, adoptar o que resta da alternativa implica a impossibilidade de ir além de uma denúncia moralista do consumismo, nada acrescentando, pois, ao que importa: o conhecimento da realidade. Desta afirmação, contudo, não podemos inferir a ideia de que toda a denúncia, de per si, se torne necessariamente refém do moralismo. Mas é importante denunciar, pelo menos, a facilidade com que esse discurso, neste domínio, pretende assumir a primazia crítica.
Como afirma Baudrillard, devemos ultrapassar esta pseudodialéctica do verdadeiro e do falso, porque a publicidade, enquanto mito, transcende os valores de verdade. A transcendência que lhe é própria significa que o que nela há de mítico não está, pura e simplesmente, nos seus conteúdos. Aliás, se fosse esse o caso, seria fácil confrontá‑los com aquilo de que falam, apelando para uma lógica da verificação. Poderíamos então, e por fim, «desmascarar» os agentes publicitários. Nada disto acontece, no entanto; muito pelo contrário, aumenta paulatinamente o círculo de acção destes últimos avatares dos inimigos de Platão. Por isso mesmo, temos de procurar noutro lado a razão de ser da eficácia da sua prática profissional. Devemos vê‑los como novos especialistas de uma arte muito antiga: «selffulfilling prophecy». Ora, para que as profecias se cumpram por si mesmas, torna‑se indispensável o recurso à técnica da repetição exaustiva da mensagem, na qual havemos de reconhecer o modo de existir da publicidade. Enquanto mito, de facto, constitui um processo de troca de signos proféticos e de circulação de um código tautológico.
Para avaliar a publicidade, portanto, são inúteis os critérios apofânticos. E se o são, claro está, é porque o discurso publicitário (longe de ser proposicional — e cujo pensamento seja literalmente expresso) se revela, pelo contrário, uma fala ambígua, jogando habitualmente com a sugestão e o subentendido. Como as mensagens publicitárias pressupõem, o mais das vezes, a subordinação da função referencial à poética, os seus sintagmas paradigmáticos (por exemplo: Omo lava mais branco; Coca‑Cola é que é; um Mercedes é um Mercedes) furtam‑se obviamente à prova alética, transformando o objecto de que falam num acontecimento, ou melhor, «construindo‑o como tal por meio da eliminação das suas características objectivas». Estamos perante um mecanismo de ritualização do quotidiano, por via do qual, aliás, à semelhança da «palavra mágica» — cuja eficácia assenta no seu carácter repetitivo e hipnótico —, se institui a garantia — em torno da «tautologia do significante» — de uma contenção estratégica da deriva do significado. Como paradigma desta estratégia comunicativa, que singulariza a publicidade, devemos assinalar a preponderância mediática de um dispositivo semiótico, a marca, cujo impacto inflacionista sobre o valor de troca do objecto, não parecendo explicável pela sua natureza material, nem pelo simples facto de ser portador de um determinado valor de uso, só pode ser devidamente avaliado através dos recursos simbólicos de uma codificação totémica da estrutura do real.
Eurico de Carvalho
In «O Tecto»,
Ano X, n.º 69,
Dezembro/2010, p.2.
Dezembro/2010, p.2.
Etiquetas: ENSAIO


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




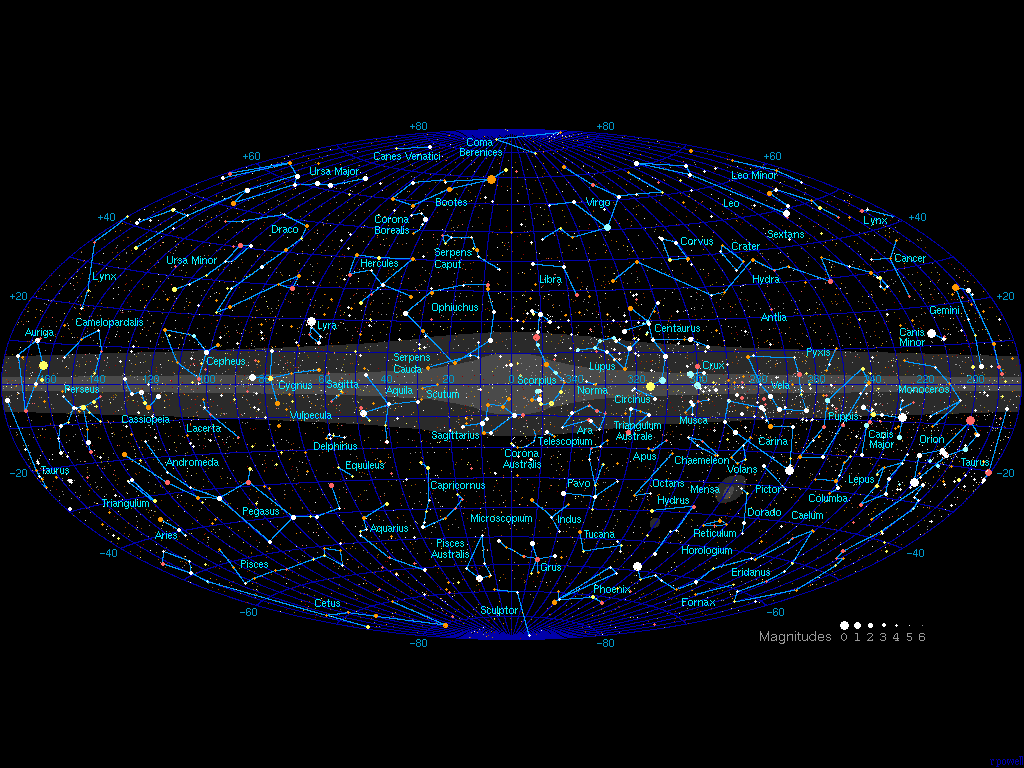
0 Leituras da Montr@:
Enviar um comentário
<< Home