Entre o Espaço e o Tempo: A Segunda Guerra do Golfo
Como é bom de ver (ou talvez não, pois há quem olhe apenas), é muito raro encontrar em outrem os nossos pensamentos, e ainda por cima expressos na sua maioridade, especialmente quando eles são fruto de uma busca que se pretende pessoal e liberta de «seguidismos» mais ou menos escolásticos. É raro, repito, e muito, e não será preciso chamar à pedra Jacques de Chabannes, o senhor de
Comprei há poucos dias o Balanço do Século: ciclo de conferências que decorreu em Lisboa, sob a égide da presidência da República, de Abril de
De que nos fala Augé? Do que tenho dito aqui: do espaço e do tempo, da ocupação e da preocupação, do poder e do desejo. Para este antropólogo francês, cuja principal área de investigação é a antropologia do poder e da religião, «nada se pode pensar senão através das categorias do tempo e do espaço». E acrescenta: «Talvez só exista verdadeiramente crise quando [...] uma destas categorias se impõe à outra, ao ponto de a ocultar na representação que um certo número de homens faz da sua situação.» E a crise do sentido no mundo contemporâneo é mesmo caracterizada pelo autor no âmbito da imposição da categoria do espaço, enquanto articulação do sentido, à do tempo. «Se nos ativermos — diz ele — aos referenciais correntes da identidade colectiva, somos portanto levados a descrever a crise do mundo contemporâneo como uma crise de identidade, com origem simultânea num defeito e num excesso. Defeito de tempo: o tempo perdido, diz a canção, jamais se recupera. A crise intelectual provém da mesma constatação, feita à escala global ou histórica: o tempo deixaria de ser portador de sentido para o presente. A verificar‑se esta hipótese, não haveria qualquer abuso em considerá‑lo morto. Ou seja, aquilo que, por outras palavras, Foucault dizia ao proclamar a morte do homem, já que este se transformara de sujeito da história em objecto das ciências sociais, e portanto fragmentado, abstraído e integrado em dimensões que o ultrapassam: crescimento económico, evolução demográfica, macroestruturas de ordem diversa. Uma vez que deixou de ser senhor ou produto da sua história, o homem deixa de poder ser a medida dos homens. Excesso de espaço: se o tempo enfraquece, as referências ao espaço multiplicam‑se.»
Apliquemos estas ideias sobre o espaço e o tempo a um tema que está na ordem do dia: a crise do Golfo. É por de mais manifesta a preponderância das razões de ordem espacial sobre as de ordem temporal no espírito de quem vê ou pensa o acontecimento. Fala‑se muito das flutuações da Bolsa, do preço do barril de petróleo, do equilíbrio geoestratégico no Oriente Médio, etc., e muito pouco das verdadeiras raízes históricas do conflito, as quais remontam ao colonialismo europeu, cujas consequências ainda se fazem sentir, por exemplo, ao nível das fronteiras. A Guerra do Golfo, a que houve e há‑de haver, facilmente se pode enquadrar no contexto da dicotomia geopolítica que separa o Norte do Sul, a qual passou à mó de cima com a queda do Muro de Berlim, suplantando assim o eixo Leste‑Oeste. «A qualificação geográfica — considera Marc Augé —, mesmo que por vezes possa parecer fantasista, tende a substituir a adjectivação política (progressista, conservador), a qual, lembrando um certo uso no tempo, implicaria uma determinada relação com a história.» Cornelius Castoriadis, num artigo sobre a primeira crise do Golfo (publicado pelo «Público» no dia 11 de Fevereiro de 1991), pôs a nu, a meu ver, este esquecimento do tempo em favor do espaço, enquanto realidade social, modalidade de organização e representação cultural, ao salientar que a «infelicidade da nossa sociedade é que ela só sabe confrontar‑se com o Outro, seja ele muçulmano ou vietnamita, numa única perspectiva, a da supremacia técnica, o que, com razão ou sem ela, não retirará aos adversários nenhuma das motivações para lhe resistir».
Enquanto o «grande pénis americano, aerotransportado e electrónico» — Cornelius dixit — vai fazendo das suas no Afeganistão e arredores, sob a impotência da ONU, talvez seja tempo de reflectir um pouco sobre o poder, como é próprio de quem tanto fala no espaço. Ora bem, o poder não é de direita, como sói dizer‑se, apenas por ser, de facto, da direita. O poder é de direita, hic et nunc, e sempre, porque o poder, todo ele, é, de direito, um lugar. E um lugar pede um ocupante — e não um «preocupante», que é adjectivo. Daí o desconforto que me causa, por exemplo, a leitura de Freud. O «pai da Psicanálise» (e é bastante sintomático o modo como se intitula este célebre vienense...) foi, com efeito, o primeiro a pensar o desejo enquanto objecto de uma investigação autónoma — e por isso merece o nosso aplauso —, mas, por outro lado, e infelizmente, pensou esse mesmo desejo em função do espaço (vd., v.g., as duas tópicas), como seria de esperar, aliás, de um autor pertencente à tradição hobbesiana de teóricos burgueses. Por conseguinte, o Eros freudiano não é erótico.
Se é verdade que todo o pensamento se faz contra o pensamento de outrem, permita‑me então o leitor que lhe diga — e não espero surpreendê‑lo — que esse outro, para mim, não é senão Descartes (e, antes dele, Platão). Ser anticartesiano é uma obrigação temporal (e não temporária...), ou não fosse a filosofia desse cavalheiro francês a perfeita encarnação do pensamento do espaço... que eu tão vivamente contesto. De facto, para Descartes, como diz Alquié, e muito bem, explicar resume‑se a um desdobramento no espaço, isto é, explicar é dar a ver. E não nos esqueçamos que a operação da razão que fundamenta o conhecimento, do ponto de vista cartesiano, não é senão a intuição. Ora, pela base etimológica, conclui‑se que intuir é ver...
Como se sabe, a infra‑estrutura tácita do pensamento ocidental constituiu‑se em função de uma economia oculocêntrica. O ser tem sido constantemente pensado como substância, o que não é novidade para quem leu Platão (ser = eidos = «aquilo que se vê») e Descartes (ser = objectum = «lançado adiante» dos olhos). Enfim, a metafísica — e por aqui se vê como são enganadoras as palavras — não passa do supra‑sumo do pensamento do espaço.
Se Heidegger é um pensador que me desperta o interesse, para além de estimular a minha reflexão, é porque me ensinou, num certo sentido, a ver o mundo como adjectivo. Quando se deixa de pensar o ser em termos de substância, de modo a pensá‑lo como acontecimento — e é esta, se não estou equivocado, a essência do projecto heideggeriano —, estamos perante uma «vingança» do tempo sobre o espaço. Mas qualquer vingança, e a referida não foge à regra, acarreta determinados perigos, os quais, segundo creio, não foram contornados por Heidegger. Na realidade, e passo a citar de novo Marc Augé, «só conseguimos escapar à análise do acontecimento como fatalidade quando reconhecemos a este uma parte de contingência, e só conseguimos escapar à definição de acontecimento como contingência pura se lhe reconhecermos aquilo a que chamaria [...] a sua dimensão antropológica», dimensão, essa, recusada por Heidegger, pelo menos depois da famosa «khere». Daí o seu fatalismo.
«O pós‑modernismo pode definir‑se como a combinação de um tempo perdido com um espaço proteiforme, ambos pouco controláveis, um por defeito e o outro por excesso» (Augé). Ainda que predominantes, as referências ao espaço não asseguram a compreensão do sentido, o que se aceita facilmente, porquanto esta crise contemporânea é, acima de tudo, uma crise de identidade — e esta procede sempre de um trabalho do tempo, como assinala o mesmo Augé, pois o sentido passa necessariamente pela relação com o Outro, como já o sabia Hegel. Assim, nenhuma civilização tem legitimidade para monopolizar o sentido, e só o narcisismo pode justificar, diga‑se de passagem, alguns dos comentários à Guerra do Golfo. Mas se esta crise de sentido é realmente uma crise de identidade, então é justo que se lhe chame alienação, cuja origem se encontra, para Lukács, na colocação do tempo ao nível do espaço.
Há quem diga, como é o caso de Augé, que basta que o futuro seja possível para que a história tenha um sentido. Mas hoje, para além da dificuldade, sentida pelos historiadores, em fazer do tempo um princípio de inteligibilidade (ainda no entender de Augé), o próprio futuro já não está no tempo — está, sim, no espaço (cf. as ficções ditas científicas, que parecem preencher o imaginário do Ocidente). O futuro já não é utópico, e quando se perde a utopia perde‑se também a consciência da sua necessidade, cujo sentido tem em vista a promoção da alteridade do mundo. Não pretendo, no entanto, pôr de lado um imperialismo — o do espaço — em nome de um outro, o do tempo. Com efeito, o homem não pode viver sem espaço. Mas precisa igualmente de tempo para viver. «Pensemos — convida Augé — nos exemplos‑limite da utopia revolucionária e do conservadorismo tradicional. O cúmulo do pensamento focado no futuro exprime‑se por um não‑lugar, e a recusa de qualquer inovação por uma gleba — um futuro sem lugar, num caso; um lugar sem futuro, no outro caso.»
O pensamento do espaço é a recusa do infinito, recusa, essa, que vai ao ponto de confundir liberdade com liberdade de circulação, cujo direito foi reconhecido em Helsínquia, o que não deixa de ser revelador. Daí que se diga amiúde que a nossa civilização é a civilização do automóvel, que é hoje, de acordo com o Barthes das Mitologias, o equivalente exacto das catedrais góticas, ou seja, «uma criação que faz época, concebida com paixão por artistas desconhecidos, consumida na sua imagem, se não no seu uso, por um povo inteiro, que através dela se apropria de um objecto perfeitamente mágico». O outro objecto que define o Ocidente — e o objecto, diga‑se já, ainda segundo o autor, «é o melhor mensageiro do sobrenatural» — é o aparelho de televisão. Consumir imagens é consumir espaço, muito espaço, refere Marc Augé, já que se tornaram indissociáveis representação e realidade, o que é característico — note‑se — do pensamento mágico. «Trata‑se mesmo de uma necessidade de espaço (espaço real, espaço imaginário) que impele as multidões para as estradas nos fins‑de‑semana e para os aparelhos de televisão» (Augé). Está o tragicómico desta situação, em última instância, na relação inversamente proporcional que se estabelece entre o consumo de espaço imagético e a grandeza dos espaços concretos em que temos de viver (pense‑se, por exemplo, no gravíssimo problema da habitação).
A civilização ocidental é uma civilização ciclópica, onde predomina exclusivamente a redundância obsessiva do olhar, objecto de estudo, aliás, no domínio da publicidade. Mas de tanto ver ficamos cegos, motivo mais que suficiente para que Charbonneau tenha dito, num clássico da ecologia, já editado entre nós, que «o homem do metropolitano das seis da tarde não tem olhar». A visão, já o sabia Barthes, é o mais mágico de todos os sentidos, contrariamente ao tacto, o mais desmistificador. Ora isto implica, no meu entendimento, a necessidade de assumirmos o feminino que há em nós, sem que isso passe, claro está, pela adopção de serôdios feminismos.
Quando chegará a hora de o sentido se alimentar de todos os sentidos? Quando chegará o dia em que será considerado analfabeto todo aquele que não cultivar a sua harmonia sensorial? Quando chegará o tempo em que a alma, a exemplo dos pitagóricos, não será senão o equilíbrio do corpo?
E para terminar, já que falei dos pitagóricos, devo dizer que foi mesmo neles que procurei a inspiração necessária à elaboração da Tábua dos Opostos que se segue, pondo assim um ponto final neste artigo que já vai longo.
Tábua dos Opostos | |
| Espaço | Tempo |
| Ocupação | Preocupação |
| Masculino | Feminino |
| Poder | Desejo |
| Visão | Tacto |
| Uno | Múltiplo |
| Ser | Devir |
| Razão | Emoção |
| Sólido | Líquido |
| Rectilíneo | Curvilíneo |
Eurico Carvalho
Texto publicado em Dezembro de 2002
no jornal «O Tecto» de Vila do Conde
(Ano XIV: N.º 39).
Cf. páginas 5/6.
Etiquetas: CENA DIDÁCTICA, ENSAIO


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




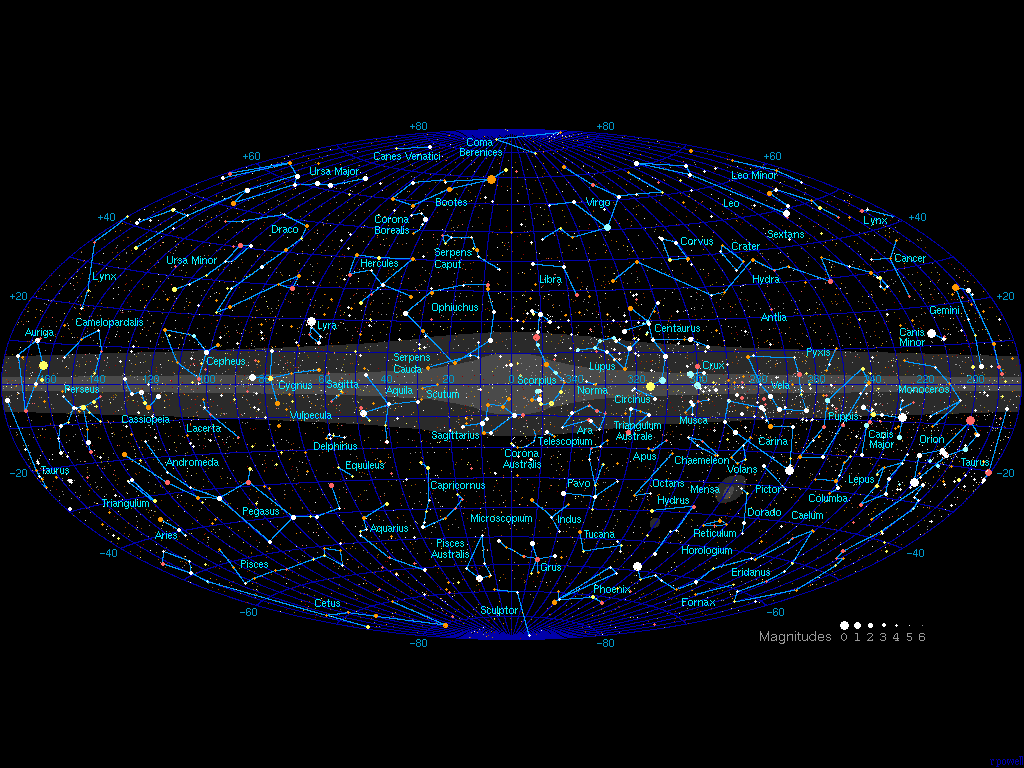
0 Leituras da Montr@:
Enviar um comentário
<< Home