NOVOS PERCURSOS DO DESEJO
«A libido é, de maneira constante e regular,
de essência masculina.»
FREUD
Vinte e quatro e séculos depois, e apesar de o jogo ser outro, a calúnia platónica repete-se noutra linguagem, dando ao desejo a mesma dimensão negativa.
Freudulentamente, poderia dizer-se (com a devida vénia a José Cardoso Pires): a fala resulta do silêncio do falo. E isto não é fazer das palavras mera brincadeira, porquanto o problema levanta-se aí mesmo: Freud teoriza sobre o Eros — e não o deixa falar. Por alguma razão o Eros de Freud não é erótico — e não o é, de facto, na justa medida em que “o pai da Psicanálise” observa um intransigente biologismo cujo fundamento epistemológico se enraíza no preconceito cientista dos arautos tardios do mecanicismo e do racionalismo moderno. No nosso entender, a inserção da problemática do Eros no contexto de uma pretensa “bioquímica das paixões” é fatal para o êxito de uma equilibrada compreensão dos percursos do desejo, já que estes não podem ser reduzidos, sob pena de nos enganarmos no caminho, a umas quaisquer rotas internacionais assinaladas no mapa sacrossanto das facilidades maquínicas da burocracia analítica. Ao centrar o desejo numa dinâmica puramente sexual, Freud limitou-se, por conseguinte, a materializar os seus preconceitos positivistas. Da positividade da ciência não se pode deduzir, como o fizeram ingenuamente alguns filósofos e muitos cientistas, o positivismo enquanto critério absoluto da verdade do conhecimento, de todo e qualquer conhecimento.
Escutemos a palavra de Lévinas (cf. Totalidade e Infinito): “Quando, com Freud, a sexualidade é abordada no plano humano, é rebaixada à categoria de uma procura do prazer (...). O que permanece incompreendido é que o erótico (...) recorta a realidade em relações irredutíveis às relações de género e de espécie, de parte e de todo, de acção e de paixão, de verdade e de erro; que pela sexualidade o sujeito entra em relação com o que é absolutamente outro — com uma alteridade de um tipo imprevisível em lógica formal — com o que permanece outro na relação, sem jamais se converter em ‘meu’ (...). A sexualidade não é um (...) saber ou poder, mas a própria pluralidade do nosso existir.”
Com simplicidade mas sem simplismo, a metafísica pode ser entendida como uma espécie de via apenas com sentido único, algo similar a um roteiro, indo do múltiplo (corpo, matéria, devir) até ao uno (alma, espírito, ser). Esta trajectória do Logos ocidental implica também uma redução “natural” do Outro ao Mesmo. Como é bom de ver, esta lógica é antes de tudo uma autêntica axiologia, o que é verdadeiramente problemático e põe em causa todo o edifício de raiz platónica da metafísica ocidental. Filosofar, enfim, depois de Platão, passou a ser a maneira mais “razoável” de esquecer o corpo.
Apesar de tudo, há uma nítida submissão de Freud aos esquemas imperialistas da metafísica: a criança, à semelhança do tirano platónico, é o perverso polimorfo, ou seja, representa a potência da matéria à espera de ser actualizada — “humanizada”, formada — pela intervenção do espírito. Tal como o tirano está fora da Lei — em Platão — e é por isso culpado, a criança, para Freud, é também um “fora-da-lei”, porquanto está sob a alçada do Princípio de Prazer e aquém do Princípio de Realidade.
Como diz Benoist, “o teatro da teoria metafísica e idealista é um teatro (...) onde não há qualquer escolha senão entre o Logos (...), como Supremo Bem, e a tentação mortal do tirano-louco, ébrio de crueldade; os crimes do tirano (...) Arquelau, os crimes de Giges invisível (...), servem a Platão (...) para mostrar que, se não houver uma repressão, um entrave do desejo através dum valor absoluto de justiça essencialmente determinado, o desejo é mau” (cf. Tirania do Logos).
Em Freud, a repressão do desejo é também considerada, não, claro, através da ideia de Justiça, mas sim por intermédio do mecanismo de socialização, inevitável e necessário. A sobrevivência do sistema social é o valor a ter em conta.
Para além das aproximações possíveis, há uma distância enorme — não só temporal — entre Platão e Freud — e essa distância significa exactamente a importância teórica da Psicanálise para a problematização do desejo. A revolucionária descoberta da libido, aliás, foi o elemento fundamental para uma nova contextualização da sexualidade, fora do velho âmbito da finalidade reprodutora e do esquema da perpetuação da espécie. Já em Platão o amor é submetido a algo exterior a si, sendo definido como o “desejo de geração e procriação no belo” (O Banquete, 206e), tendo em vista a imortalidade. Com Freud, finalmente, a sexualidade passa a ser analisada segundo a autonomia a que tem direito.
“A grande contribuição de Freud — afirma Edgar Morin —, muitas vezes mal compreendida, tanto pelos defensores como pelos detractores da Psicanálise, foi ter descoberto o poder invasivo total da sexualidade sobre todas as actividades mentais, até ao sonho e à criação intelectual, derivando-as, transformando-as, metamorfoseando-as, e fazendo-se ela própria derivar, transformar, metamorfosear (...).” Esta citação permitir-nos-á avaliar os rodeios platónicos em torno da natureza do Eros — o amor é sempre isto e aquilo, mas nunca ele próprio — e denunciá-los como um nítido processo de denegação.
Para Platão, “o amor é o desejo da perpétua posse do bem” (O Banquete, 207b) — é a encenação mítica do próprio movimento do pensar do filósofo. “Com efeito, a sabedoria encontra-se entre as coisas mais belas e Eros tem o amor das coisas belas, de onde se torna necessário que Eros filosofe e, se filosofa, é porque se encontra no ponto intermédio entre o sábio e o ignorante” (id., 204b). Eros é, portanto, “um demónio poderosos”, ou seja, “representa o meio termo entre os seres divinos e os seres mortais” (id., 202e), entre os homens e os deuses. Na verdade, o amor é essencialmente filósofo — e o filósofo de que fala Platão (tendo bem presente, claro está, a figura do seu mestre Sócrates) quase adquire um estatuto divino. “Portanto, se o amor é filósofo e o filósofo é aquele que possui essa ciência superior chamada dialéctica, dado que, por outro lado, o amor liga o mortal e o imortal e que o Logos nos liga aos deuses e nos amarra aos homens, poderíamos dizer que essa função unificadora do amor, que quer fazer com que participemos na imortalidade ao fazer-nos descobrir a própria ideia de Beleza, pode ser ligada a esse Logos que tenta eliminar as distâncias que separam os interlocutores do diálogo socrático, e procura provocar neles uma reminiscência que irá devolver-lhes o saber. Enquanto o amor tenta fazer o homem participar numa perpetuidade situada à sua frente, o Logos tenta fazer com que ele participe numa eternidade situada acima dele e na qual mergulha o tempo que lhe é dado” (J. Brun).
Por aqui se vê como o amor no platonismo se perde de si, transformando-se num importante conceito ético-epistemológico e pondo-se também ao serviço de uma estratégia metafísica peculiar: a dialéctica ascendente (do múltiplo ao uno: dos belos corpos às belas almas, das belas almas à beleza das acções e das leis, da lei à ciência e desta ao Belo Absoluto, ao “belo em si próprio”, eterno e imutável) [O Banquete, 210a-1c]. O amor é assim um desejo em direcção ao belo e, como tal, não pode deixar de implicar a ideia de uma falta. Eros passa por ser, segundo Platão, filho, antes de mais, da Penúria ou da Pobreza, como se lhe queira chamar (id., 200e-1b).
O amor “fecunda a verdade” (id., 212a) — esta é a grande “verdade” platónica acerca da natureza de Eros, e deste modo Platão desconhece por completo o autêntico jogo do desejo.
A neutralização platónica do amor no contexto dialéctico da sua filosofia alia-se, por outro lado, ao terror da mudança que nela se inscreve de uma forma clara. Por isso, a cidade organiza-se de acordo com o seu modelo ideal no intuito de garantir a permanência definitiva das coisas em igualdade consigo mesmas; por isso mesmo, os poetas são expulsos e, com eles, desaparece o risco da desordem. O devir resulta
Ao fazer do corpo o “cárcere da alma” e desta uma “planta do céu”, o discípulo dilecto de Sócrates inviabiliza, logo à partida, quaisquer tentativas de esclarecimento da problemática erótica.
Na verdade, Sócrates (o “amante”, no entender dos atenienses da época: não por acaso, aliás, ele foi acusado, entre outras coisas, de “corromper a juventude”...) põe o amor ao serviço da dialéctica e, ao longo das suas conversas (e conversões...) na ágora, nunca deixa de sujeitar o erotismo ao optimismo escatológico. Ora, como diz Roland Barthes, o “dis-cursus de amor não é dialéctico” nem amar serve, como pretende o mito socrático, para criar “belos e magníficos discursos”.
O mito do nascimento de Eros, contado por Sócrates n’ O Banquete, determina, como vimos já, o próprio estatuto do pensamento: o amor, com efeito, “é filho de um pai sábio e pleno de recursos e de mãe sem saber nem recursos” (id., 204b), ou seja, o Logos é da ordem do masculino e a ignorância, por sua vez, da do feminino. Por outras palavras: não há mulheres em filosofia, não há filósofas na História da Filosofia. “Aqueles que são fecundos segundo o corpo, voltam-se de preferência para as mulheres (...). [E fazem filhos!] Para os que são fecundos segundo o espírito, porque existem — e o espírito é mais fecundo do que o corpo” (id., 208e), há o filosofar!
Dificilmente se poderá pôr em dúvida a existência de características fisicamente eróticas na relacionação de Sócrates com os jovens atenienses, para mais tendo em conta a familiaridade cultural dos antigos gregos com a pederastia. (Aliás, não por mero acaso, Fedro, uma das personagens d’ O Banquete, tentou estabelecer, no seu discurso em favor de Eros, uma convergência entre os termos “pederastia” e “pedagogia”, de modo a concluir que não há pedagogia sem pederastia, i.e., que a educação das crianças supõe o amor por elas.) Mas o Eros socrático tinha, além disso, uma outra dimensão, como o belo Alcibíades acabou por descobrir quando pretendeu seduzir Sócrates, “o silénico ser extremo de Sócrates”: “os seus olhos de caranguejo, os seus lábios grossos e o seu ventre pendente” (Nietzsche).
A outra dimensão do Eros de Sócrates foi-lhe transmitida, como ele nos diz n’ O Banquete (206e), por uma profetiza, Diotima. Com ela Sócrates descobriu que o amor “não é o amor do belo”, como antes julgava, mas sim “o desejo de geração e procriação no belo”, “o desejo da imortalidade”. Iniciado “nestes mistérios de Eros”, “o mais sábio de todos os homens”, segundo o oráculo de Delfos, tentará então fecundar os espíritos dos jovens de Atenas por intermédio da maiêutica. Sócrates, afinal, pretende obter deles (e, em especial, de Alcibíades) a sublimação estética do desejo, a sublimação da homossexualidade na amizade filosófica.
Se Eros é amor e amor é desejo, então Eros é também desejo, e se deseja é porque quer alguma coisa que não tem, pois se a tivesse não a desejaria (id., 200e-1b). Como se vê, Platão escreve sobre o amor mas sob o signo da falta, da necessidade. Nos antípodas deste posicionamento metafísico, é preciso considerar o amor na esteira dos novos contributos da Psicanálise, no seu excesso de sentido — de sentidos! —, enfim, é preciso considerá-lo no seu verdadeiro lugar: o inconsciente, liberto de qualquer dialéctica metafísica.
No entanto, o próprio Freud cai nas armadilhas da filosofia. Com efeito, “se a teoria freudiana traz consigo o que abala a ordem filosófica do discurso, ela fica-lhe paradoxalmente submetida no que diz respeito à definição da diferença de sexos” (L. Irigaray). “Fazendo parte de uma ‘ideologia’ que não põe em causa, afirma que o ‘masculino’ é o modelo sexual, que qualquer representação do desejo não pode medir-se senão com ele, submetendo-se a ele” (L. I.). Por isso, “a articulação possível da relação entre a economia inconsciente e a diferença dos sexos” não é levada a cabo por Freud, preso como está ainda “de uma certa economia do Logos” (L. I.). Freud não questiona o estatuto “fálico” do Logos nem a economia oculocêntrica inaugurada pela metafísica — e isso reflecte-se inevitavelmente na sua teorização do desejo. Além do mais, o pessimismo do velho Freud sobre o mal-estar da civilização ocidental — civilização que privilegia o falomorfismo — é o resultado de uma postura racionalista cujos fundamentos se encontram na tradição hobbesiana de teóricos burgueses.
Somos obrigados a concluir que nem o Eros de Platão nem o Eros de Freud são verdadeiramente eróticos, porquanto o Eros, no primeiro, sujeita-se a uma dinâmica escatológica e, no segundo, limita-se a uma dinâmica sexológica. Além disso, tanto em Platão quanto em Freud, o desejo é sempre objecto de uma repressão socialmente necessária. A integração social do indivíduo é um valor indiscutível e a equação «racionalidade=socialidade» é aceite, por ambos, sem mais. Nem Freud foge à dicotomia (e a dicotomização, diga-se de passagem, é, de todas, a estratégia mais metafísica) entre normal e anormal...
No meio de tudo isto, é necessário dizer e afirmar — contra todas as calúnias platónica (cf. o mito de Giges; o tirano) e freudiana (cf. o “perverso polimorfo”) sedimentadas no facto de tanto Platão como Freud partilharem uma perspectiva igualmente negativa do desejo, ao subordinarem-no à essência e à lei, condições decisivas, segundo ambos, para evitar uma assunção selvagem do mesmo e para permitir a sua “humanização”, i.e., socialização —, fazendo voz com Espinosa e Nietzsche, ou melhor, com aquilo que neles “descobriu” Gilles Deleuze, é necessário dizer e afirmar, dizíamos, a possibilidade de uma verdadeira assunção — e não sublimação — do desejo, ou seja, uma assunção verdadeiramente erótica: a dádiva do(s) sentido(s)!
EURICO CARVALHO
In «O Tecto»,
Ano XIV, n.º 37,
Julho/2002, pp. 2/5.
Etiquetas: CENA DIDÁCTICA, ENSAIO


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




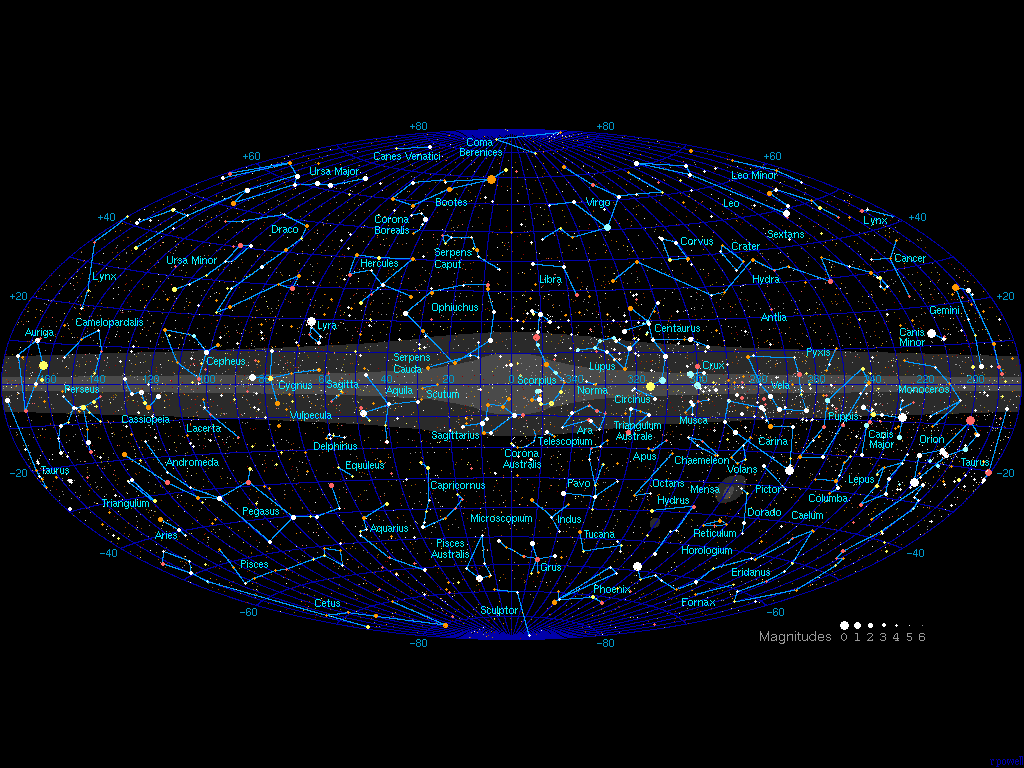
0 Leituras da Montr@:
Enviar um comentário
<< Home