FRAGMENTOS DE UM DIÁRIO POR ESCREVER [XII]
Eis que vem o tempo em que o corpo, sem pedir desculpa por ser o que é, ritmo primitivo e binário, adere publicamente à cançoneta mais fácil. Sem remorsos, repugna‑lhe a altivez juvenil do eu, cuja vergonha apenas lembra a alma de um certo bibliotecário, o qual, um dia, lendo a revista cor‑de‑rosa das suas noites, se deixou surpreender pelo olhar feroz de um leitor diurno.
***
Pode a vida de uma pessoa ser salva por um livro? Esta pergunta pertence à matriz da nossa civilização. Somos filhos de um Deus que escreve, mas não sabe dançar. Escravos de olhos grandes, temos pernas curtas.
***
Interrogas‑te sobre o que em ti busca o silêncio. Interrogaste até o olhar dos próprios gatos! Mas não tens aí o tempo de o barulho em volta despir essa dignidade antiga — a de ser a mais insuportável capa alegre para o adiar da obra?
***
Enquanto crescem as tardes, na sua lentíssima despedida do Inverno, encurta‑se a vida de quem escreve há quase trinta anos. Não lhe dá descanso o pensamento, assassino, de que possui mais passado que futuro. Lá fora, caindo com a fúria calada dos obsessivos, mima a chuva miudinha um cerimonial antigo: o silabar interminável de um lavrador de palavras cegas.
***
Quando se torna um fardo a necessidade de estar hiperligado à Rede, afagamos com gosto a ideia, qual pêlo de gato manso, de um certo regresso à cena do Mundo. Mas não dura muito a cinematográfica carícia. Mal lhe pesamos a substância, infiltra‑se em nós, perigosamente, toda a insídia de uma dúvida cartesiana: «E se, afinal, não houvesse Mundo para além da Rede?»
***
Quando os demónios andam à solta dentro de nós, escapando à chibata dessa água desalmada que ainda cai do céu, o melhor, por vezes, é deixá‑los ir. (Hão‑de cansar‑se um dia.) E se lhes desse música? Não disse algures Lutero que era mezinha santa para os maus pensamentos? Não disse ele, aliás, ser a arte eleita pelo ódio do Diabo? Pois sim! Quem não dança à noite ao som do rock‑and‑roll?
***
Tenho momentos de leitura (de ver‑me livre de mim!) de pura bulimia. Navego então pelas estantes como quem busca a ilha nunca vista dos olhos azuis da infância. Com os recursos austeros do acaso, recruto de uma só vez a longa série militar de livros de ar fradesco. Encurtando o olhar, qual cego pedinte, consigo folheá‑los com a pressa das lebres. Mas logo a impossibilidade de os ler nesta vida invade o espaço do pó que me cerca. Sobe‑me à boca, súbito, um desgosto: toda a biblioteca parece imitar a pedra tumular da vera morte. Inexplicavelmente.
***
Debato‑me (há quantas noites?) com incerta mistura de electricidade e cansaço. Durante o dia, com magnífica lentidão, a dos elefantes, escorre ainda a tinta vermelha por entre linhas incontáveis, enquanto se aglomeram na secretária rimas infernais de papel poluído. Na sala de aula, sem força já para acompanhar a voz, perdeu graça o jeito astuto das mãos falantes, voando sobre o espanto dos alunos. E no bar dos professores, sorvendo o chá do fim da manhã, desenho dentro de mim a indispensável viagem para uma ilha distante. Invento até o mapa do meu desaparecimento. Mas tudo isto dura apenas o que eu permito que dure: o tempo de uma bebida chinesa. A paciência, como sabemos, é uma virtude pedagógica. Quanto ao devaneio, devemos dar‑lhe, com trela certa, o melhor lugar: a página mais que vazia de quem escreve.
***
Três centímetros de pele sucumbem à guerra das trincheiras. Quem coça perdidamente a ferida que lhe cega a alma perde o mundo. Pela impossibilidade de não o fazer, jugo agridoce, mata a mão (invertendo aqui o seu destino natural) a vontade. Do seu frenesi, doloridamente doido, não temos senão o símile violento do coito.
***
À janela de um bar solitário, quando o rebanho de rodas regressa bovinamente a casa, vejo o mar como uma fita muito fina de prata suja. Tento ler as últimas linhas de um romance espanhol. Enquanto antecipo o sorriso da empregada de mesa, adio o fim da leitura. (Parece‑me um crime terminá‑la.) Peço uma água sem gás e um café. Com todo esse jeito único que tenho para chocar com as coisas, como se as mãos se libertassem do dono sem pedir licença, entornei a parte quente do pedido. Pedi‑lhe desculpa. E ela, misturando eficiência e graça, fez do pano com que limpou o tampo o prolongamento de um Sol incapaz de se pôr debaixo das vagas.
***
Era Novembro. E sem o sabermos, sob a insular figura de um Curso Breve de Literatura Portuguesa, tecera já a velha criança de Heraclito a mais-que-perfeita grinalda do nosso encontro. E que melhor lugar que Vila do Conde? Aqui chegaste com a leveza de um pássaro à solta e sem bilhete de volta, rolando alegremente os olhos por esse imenso areal da Praia Azul. (Conquanto possa não ser esta a imagem quase certa dos passos que deste nesse dia, deixa lá: tem mais força a poesia que a história.) Mesmo que então voassem teus pensamentos, mal imaginavas que uma tarde à beira-mar seria o ouro bastante para que nossas mãos se conhecessem. No ano seguinte (em tempo de aniversário: o meu), subimos a escada a pique — lembras-te? — que ladeia a capela de Nossa Senhora da Guia: aí, sim, como se estivéssemos no centro do mundo, por entre chuva e vento, laçaste-me o coração, é certo, num longo cachecol de afectos e gargalhadas.
Muito antes disso tudo, porém, a doze desse mês — em que é costume preparar a terra para as culturas da Primavera — não lavaste apenas a alma em plena maresia: trouxeste o Sol para a Biblioteca. Fez-se mister completar o círculo do saber com “a subtil maravilha de um rosto adolescente”. Desde logo, com a consciência jubilosa da flecha que atingiu o alvo, olhei-te: passaste a ser em mim esse verso que ainda ignorava, puro e simples, que se não fosse já de outrem seria meu. Puro e simples: tal como tu. E depois vieram as primeiras palavras: durante o intervalo protocolar da sessão inicial, por entre pastéis de nata e um curtíssimo cimbalino, lançaste-me um elogio à mesa. Confesso tê-lo recebido com deslumbrados pavilhões auriculares. Porquê? Sabe-lo bem: pela lembrança do mar que se agita em teus olhos — e em cuja íris se misturam as tintas de um pintor enamorado de um verde-cinza alegre e profundo.
Agora, quando cresce entre nós o rumor eléctrico de uma corrente sanguínea, acelera‑se o filme oceânico de toda a ternura: entrelaçam-se em pleno azul mãos mais suaves que as maçãs da Pérsia; perto de uma capelinha que se debruça sobre o Ave, junto à quadra de um velho poeta, descola da noite um abraço que a justifica, rumo à alegria; uma declaração d’amor tem como única testemunha a orquestra sinfónica das águas do Norte; lado a lado, nas salas de cinema, montando a tenda dos sonhos, compomos lentamente um arco-íris digital; longuíssimos telefonemas multiplicam-se por ti adentro, celebrando tua presença-na-ausência, dilatando-a ad infinitum; e em segredo, perfumes vários pontuam teus regressos à Vila, abrindo o espaço do Oriente...
Eurico de Carvalho
In «O Tecto»,
Ano X, n.º 60,
Fevereiro/2008, pág. 4.Etiquetas: PROSA


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




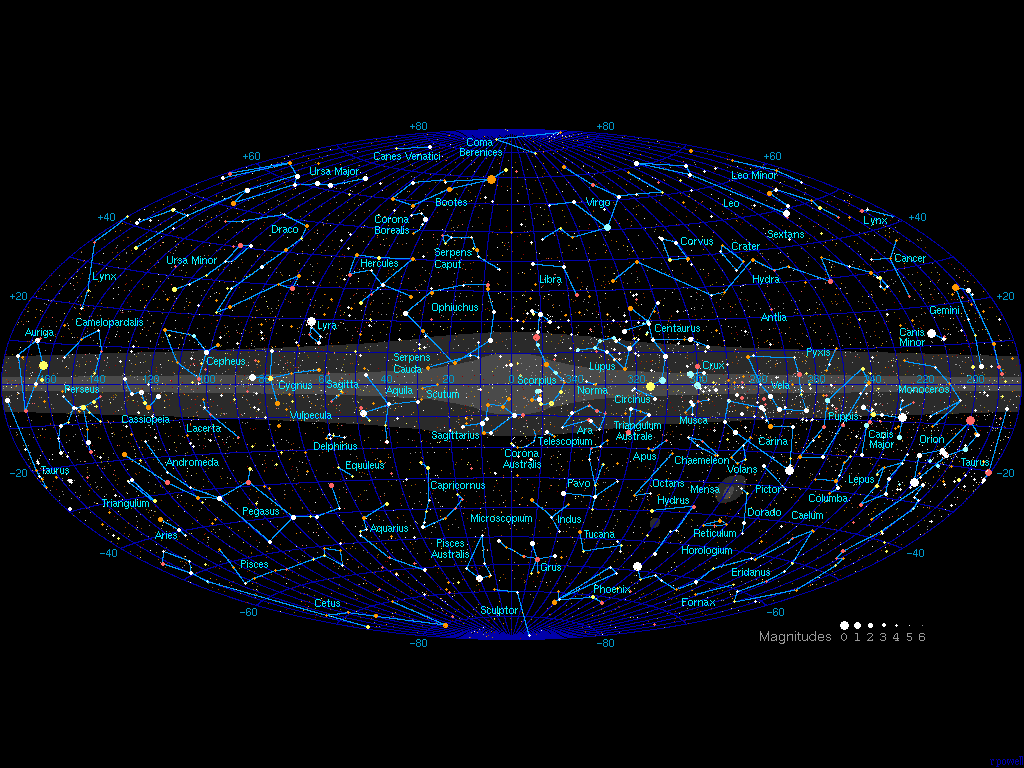
0 Leituras da Montr@:
Enviar um comentário
<< Home