ENTRE ESTÉTICA E POLÍTICA: UMA NOTA DE LEITURA SEGUIDA DE UM PISCAR DE OLHOS DE GODARD A GUY DEBORD
Da obra de Jacques Rancière que nos cabe aqui falar — Le Partage du sensible: esthétique et politique —, e que data do ano emblemático de 2000, não queremos tão-somente produzir, o que seria manifestamente pouco, a simples recensão de leitura, i.e., o mero registo, ainda que edificante, de um determinado núcleo interrogativo e temático. Fazê-lo, aliás, levar-nos-ia a trair, de algum modo, o espírito do opúsculo, tanto mais que o mesmo se inscreve, para citar o próprio autor, «dans um travail à long terme que vise à rétablir les conditions d’intelligibilité d’un débat». Deste debate, portanto, não se espere de nós a neutra posição de porta-voz. Com efeito, o que está ultimamente em jogo — a subjectivação política — bloqueia, desde logo, toda a ânsia eventual de neutralidade, desmascarando-a, em boa verdade, como má -fé, no sentido sartriano do termo.
De que debate se trata, afinal? Ainda que a resposta não possa ser linear, por força dos vários níveis de análise que a tornam possível, certo é que o seu centro gravítico assenta, tal como o título indica, nessa «repartição do sensível» que se configura como o objecto, segundo Rancière, de uma «estética primeira», que não há que confundir, de resto, com a clássica disciplina homónima.
Antes de se proceder, porém, à delimitação objectual supracitada, convém que se refira o contexto histórico filosófico em que emerge o pensamento estético político do filósofo francês. Eis uma tarefa de que o texto original se encarrega — e com suficiente rigor —, descodificando uma série de acontecimentos que marcam a nossa contemporaneidade, e dos quais, em nome da síntese, devemos realçar a crise da arte e a generalização do espectáculo. Estamos perante dois fenómenos que, desde o século de Oitocentos até hoje, têm alimentado a polémica, e cujas figuras tutelares são, para nós, e respectivamente, Hegel e Guy Debord. Ademais, embora não cite o seu nome, Jacques Rancière tem em mente o segundo, quando se serve da evolução do situacionismo como um exemplo sintomático «des tranformations de la pensée avant-gardiste en pensée nostalgique». É no quadro destas transformações que devemos compreender o «desencantamento pós moderno», enquanto expressão da falência das promessas de emancipação da Modernidade, cujo conceito, no entanto, por ser uma espécie de «albergue espanhol», merece o vivo repúdio do pensador gaulês. E é também neste contexto de espectacular refluxo ideológico — o descrédito existencial e mediático das utopias políticas — que ele destaca «le lieu privilégié où la tradition de la pensée critique s’est métamorphosée en pensée du deuil» : a obra de Jean François Lyotard. Sob a sua pena, de facto, a arte, enquanto testemunho do inapresentável, tornou -se, por assim dizer, o avesso apocalíptico das representações da bem-aventurança revolucionária.
Mas nem Guy Debord, por um lado, que até fez e falhou a aposta na Revolução, nem Lyotard, por outro, e na medida em que lhe virou pós-modernamente as costas, podem servir de modelo à forma de pensar a estética — e a sua relação com a política — de Jacques Rancière. É tempo já, por conseguinte, de mostrar o que de inovador nos traz o seu projecto teórico. Assim sendo, justifica-se agora a definição do que há que entender por «repartição do sensível»: «J’apelle partage du sensible — afirma o filósofo — ce système d’évidences sensibles qui donne à voir en même temps l’existence d’un commun et les découpages qui y définissent les places et les parts respectives.» Ora ressalta destas palavras, como é bom de ver, a defesa de uma tese: a prioridade do estético relativamente ao político. De imediato, porém, nos alerta Rancière para os riscos de uma indevida hermenêutica da sua tomada de posição, demarcando-a de qualquer tentativa de «estetização da política», de que o fascismo, aliás, de acordo com Walter Benjamin, constitui lídimo e repulsivo exemplo.
Em que consiste, então, essa estética subjacente à política? «C’est un découpage des temps et des espaces, du visible et de l’invisible, de la parole et du bruit qui définit à la fois le lieu et l’enjeu de la politique comme forme d’expérience.» A partir daqui, consequentemente, podemos distinguir três níveis de análise: (i) uma «estética primeira», cujo analogon, foucauldianamente enquadrado, seria o sistema kantiano das formas a priori da sensibilidade; (ii) uma «estética segunda», ou seja, a disciplina filosófica que habitualmente se pensa como tal, o que significa a reflexão sobre a arte; e (iii) as práticas artísticas propriamente ditas, que são «maneiras de fazer». No quadro global desta tentativa de redefinição da estética, não se busca a constituição de uma nova teoria geral da arte, mas procura-se, sim, a partir da articulação dos patamares que acima distinguimos, a determinação de um particular regime susceptível de identificar e pensar as artes . Não podemos pensá-las, contudo, à luz dessa relação sui generis entre estética e política, como meras obras que se oferecem à percepção dos cidadãos. Devemos igualmente concebê-las, ainda que à revelia da falácia intencional, como formas pelas quais se inscreve o sentido da comunidade .
É sob esse inédito pano de fundo que emerge a ideia de três grandes regimes de identificação da arte ocidental: (i) o ético; (ii) o poético; e (iii) o estético. Cada um deles, aliás, está sob a égide de um filósofo. No primeiro caso, Platão; no segundo, Aristóteles; e, por fim, no terceiro, Schiller. Mas vamos por partes.
No âmbito do regime ético das imagens, ainda não podemos individualizar o fenómeno artístico ou, melhor dizendo, tomá‑lo como uma esfera autónoma do real. Neste contexto platónico, o que importa realmente é saber em que medida o modo de ser das imagens pode afectar o ethos do indivíduo e da comunidade. Daí que haja uma distinção entra as boas e as más maneiras de fazer, o que não implica, para Rancière, a assunção, que seria anacrónica, da subordinação da arte à política .
Contrariamente a Platão, Aristóteles não se preocupa como ser da imagem, cuja natureza haveria que discriminar, distinguindo normativamente o simulacro da cópia do modelo. As maneiras de fazer, as artes, são, antes, objecto de compreensão pragmática em termos de poiesis e mimesis. É por isso que Jacques Rancière nos fala de um regime poético e representativo das artes.
Opondo se ao regime representativo, surge muito mais tarde o estético, no qual, finalmente, a arte, segundo o filósofo, se singulariza e liberta das amarras das regras e hierarquias tradicionais. «On peut dire — diz Jacques Rancière — que le régime esthétique des arts est le nom véritable de ce que désigne l’appellation confuse de modernité.» Por que razão se trata de uma etiqueta enganadora? Porque a Modernidade, sob as suas diversas versões, progressistas e conservadoras, estabelece, entre o Antigo e o Moderno, uma divisória — artificial — que assenta, de uma forma simplista, num contraste entre o representativo e o que se lhe opõe, e cujo eixo histórico teria o seu fundamento na passagem (por força da invenção da fotografia, diria Lyotard) da pintura figurativa à abstracta.
Em última instância, o equívoco inerente à noção de Modernidade deriva da própria contradição que constitui, de acordo com Jacques Rancière, o regime estético: de um lado, a concepção da arte como uma forma autónoma da vida; e, do outro, a sua assimilação a um momento indispensável à autoformação da vida. Deste ponto de vista, torna se compreensível que, para o autor, seja Schiller, por via da ideia de uma educação estética do homem, a referência incontornável deste regime de identificação das artes.
***
Com «OS SIGNOS ENTRE NÓS», quarto e último episódio da(s) História(s) do Cinema, Jean Luc Godard intenta levar avante, sob um pano de fundo autobiográfico, uma reflexão filosófica (à qual não é alheia, por certo, a melancolia da idade) sobre o significado da Sétima Arte, enquadrando a, de resto, e em consonância com o carácter dúplice do título da obra, num duplo nível de análise: o da História, com agá maiúsculo, e o das histórias que povoam o imaginário espectacular do nosso tempo.
Todo o filme se alimenta omnivoramente de uma obsessiva colagem de palavras e imagens, que apelam, em simultâneo, para a memória do cinéfilo e para a consciência política do espectador. Na realidade, além de ser um manifesto em prol da matéria invisível que o cinema, paradoxalmente, nos dá a ver, também estamos perante um objecto que se constitui como uma espécie de revisitação caleidoscópica à «casa dos horrores» do século XX.
Num certo passo da película, Godard interroga‑se: «Où et pourquoi commencer un plan, et où et pourquoi le finir?» A dúvida do realizador transporta nos, de imediato, para a impossibilidade de uma montagem definitiva. Assistimos, portanto, à recusa, que sempre se reitera, qual Leitmotiv, de qualquer lógica narrativa, impondo se, por conseguinte, à revelia das expectativas de quem paga o bilhete, a figura do caos.
Esta aposta estética apresenta, o que merece realce, uma contrapartida política. Afinal, a musa Clio, que assombra a Europa e o ecrã, que hoje se faz mundo, é cega. Com efeito, a cegueira da História equivale à negação da narratividade, que explora a multiplicação dos signos como um sinal da absoluta indisciplina do sentido e da impotência de todo o resgate messiânico do passado.
Dessa autêntica girândola imagética de referências díspares e, em muitos casos, idiossincráticas, sobressai, para nós, uma fotografia — fugaz — de Guy Debord, que até compõe, diga se de passagem, a capa das suas obras completas. E, realmente, se ela nos chama a atenção, não é por acaso. Em boa verdade, o trabalho de Godard parece concretizar um princípio cuja apologia teórico prática se encontra, no seu máximo vigor, nos textos do autor d’A Sociedade do Espectáculo. Temos em mente, claro está, o que Guy Debord considera ser, antes de tudo, um instrumento revolucionário, ou seja, o desvio: «S’emploi par abreviation de la formule: détournement d’éléments esthétiques pré fabriqués. Integration de productions actuelles ou passes des arts dans une construction supérieure du milieu.»
Ora, Jean Luc Godard, quando assume a linha orientadora da(s) sua(s) História(s) — «rapprocher les choses qui n'ont encore jamais été rapprochées et ne semblaient pas disposées à l'être» —, não ignora, de facto, que se trata de uma versão particular de uma estratégia estético política de Guy Debord, cuja denúncia radical do espectáculo, enquanto «organização social da aparência», tem neste filme, por outro lado, um eco deveras sublime e devastador: a tese — assombrosa — de que o poder da imagem é o olhar do vazio sobre nós. Eis também a prova da razão de Guy Debord, que assinala o cinema como o lugar onde o desvio pode atingir o maior grau de eficácia e beleza.
Eurico de Carvalho
In «O Tecto»,
Ano XI, n.º 72,
Janeiro/2011, p. 12.
Etiquetas: ENSAIO


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




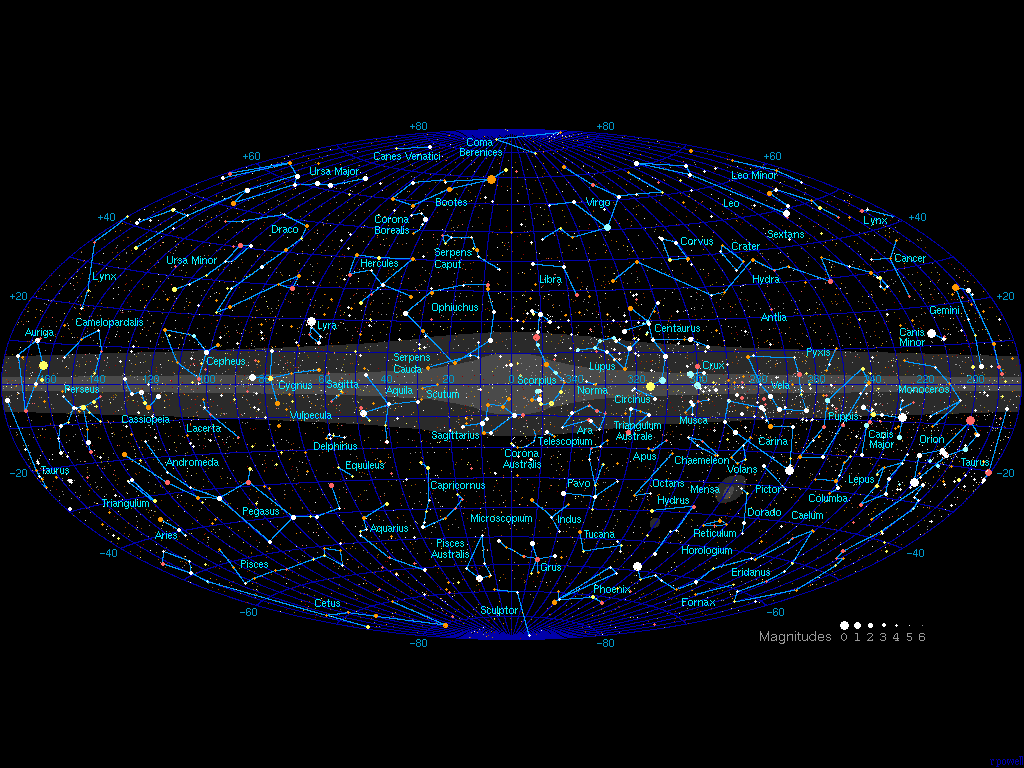
0 Leituras da Montr@:
Enviar um comentário
<< Home