«JOSÉ MATIAS»: UM CONTO EXEMPLAR DE EÇA DE QUEIROZ
À semelhança de muitos leitores de Eça de Queiroz, não pudemos deixar de ter presente — e por muito tempo — o «José Matias», conto coligido por Luís de Magalhães num volume póstumo (editado em 1902 pela Livraria Chardron de Lello & Irmão), mas que veio pela primeira vez a público na Revista Moderna de Paris, no dia 25 de Junho de 1897. O presente artigo não constitui senão uma pequena amostra desse longo trabalho de reflexão. Esperamos publicá‑lo proximamente com o título seguinte: A Paixão Segundo José Matias — Ensaio sobre o Idiota de Eça de Queiroz.
I
Além de ser o seu melhor conto, que só tem contra si a língua em que foi escrito, devemos ver nele uma obra‑prima. Enquanto contista, julgamos nós, Eça atinge a mestria na sua arte, cujo reconhecimento mundial, embora tardio, é hoje uma realidade, tal como podemos verificar, por exemplo, pela leitura de Genius de Harold Bloom. Segundo Jacinto do Prado Coelho, trata‑se de um «conto justamente célebre, mas não ainda estudado com a atenção que merece»[i], o que justifica a necessidade do nosso trabalho. Na realidade, a uma distância superior a três décadas, não perderam actualidade as suas palavras. É verdade que se publicaram entretanto outros estudos sobre a obra, mas nenhuma com fôlego bastante para que se possa falar de anacronismo.
Com tal ensaio pretendemos validar a pertinência hermenêutica de três teses nucleares:
1) «José Matias» constitui o relato de um caso de neurose obsessiva;
2) «José Matias» revela‑se uma «obra aberta»;
3) «José Matias» ilustra a falência do panlogismo.
Cada uma delas remete‑nos imediatamente para um específico território epistémico. Assim temos as seguintes disciplinas: psicanálise, poética e filosofia. Mas havemos já de responder a uma possível objecção de quem perfilha uma visão formalista da crítica literária: Não será a aplicação da psicanálise à literatura uma forma de a reduzir às fantasias do autor? De maneira alguma. Se recusamos a concepção autotélica da ficção, igualmente pomos de lado a ingenuidade da tentação biografista. Nem essencialismo semântico, nem falácia intencional. Há que respeitar o texto enquanto objecto — e, enquanto tal, a sua resistência significa o limite de toda a metodologia. (Nisto, decididamente, somos pelo aristotelismo: compete ao método adequar‑se ao objecto.) Ora, sendo ele discurso, pode dizer‑se de muitas maneiras. Com esta afirmação, no entanto, não estaremos a legitimar a arbitrariedade das interpretações? Com certeza que não, tanto mais que nem todas se equivalem: umas são melhores que outras. Unicamente reconhecemos que a «tarefa [da crítica] não consiste de modo nenhum em descobrir ‘verdades’, mas apenas ‘validades’»[ii]. (A este reconhecimento não é alheio o trabalho dos lógicos modernos: foram eles os primeiros a mostrar que as frases de um texto literário não possuem valor de verdade, i.e., não são proposições. Donde o lugar‑comum: a literatura não é senão ficção.) Trata‑se de garantir a aplicabilidade de uma linguagem segunda (metalinguagem) à primeira (linguagem‑objecto), ajustando‑as de acordo com o critério da coerência. Conta aqui, pois, a eficácia operatória do processo, na impossibilidade de uma efectiva prova alética. Sob esta ressalva epistemológica, ver‑se‑á a importância da metapsicologia para a compreensão do tecido textual, na sua qualidade de sistema de signos. Notemos desde logo o essencial: «a intervenção psicanalítica no campo da linguagem tem como consequência maior impedir o esmagamento do significado pelo significante»[iii]. Acarreta a dita consequência — em termos narratológicos — a recusa da desvalorização semiótica da história, i.e., do conteúdo diegético, em prol do discurso em si mesmo. É essa desvalorização que justifica, por exemplo, a conclusão do ensaio de Maria Lúcia Lepecki sobre o «José Matias» (com a qual discordamos inteiramente): «Queremos crer que, neste conto, se contam duas histórias de valor diferente. Uma, a do pobre apaixonado irrealizado. História secundária. Mero instrumento para que se leia outra: a do ‘homem que queria contar uma história’»[iv]. Não discutimos a funcionalidade da distinção de planos narrativos, mas a subalternização axiológica do nível intradiegético, a qual não é compatível com o facto de o título dar justamente relevo à personagem de José Matias. E a economia actancial faz parte das estratégias narrativas susceptíveis de orientar a leitura. Ora, pelo que ele significa do ponto de vista histórico‑cultural, esse elemento paratextual, dando corpo a um nome próprio, introduz o leitor no universo do individualismo romântico. Consequentemente, o estabelecimento de hierarquias só pode ter como objectivo a redução da complexidade da obra, ignorando até a interpenetração ideológica dos diferentes estratos textuais.
Frisemos novamente que, sendo ela inverificável, não se busca a correspondência entre conteúdo, de um lado, e intenção, do outro. Não se nega a evidência: o discurso é o «único [nível narrativo] que se oferece directamente à análise textual»[v]. Como é indirecto o conhecimento dos restantes, i.e., mediatizado por aquele, não lhe são exteriores o universo diegético nem o acto pelo qual se cria a narrativa. Por isso, como ficou acima subentendido, é possível assimilar a relação entre história e discurso àquela que existe, para Saussure, entre significado e significante[vi] (cf. Ricœur, 1984: 155). Mas recusamos a assimilação por causa do que nela claramente se denota: a subordinação racionalista do objecto ao método. É este ideal metodológico da narratologia, que alimenta desmesuradamente o «demónio da classificação», que faz com que o texto se feche sobre si mesmo, reduzindo‑o, por fim, a uma mera superfície susceptível de ser logicamente segmentada.
Agora vê‑se com outra profundeza o papel da psicanálise: se ela contraria o impulso taxinómico, é porque pode «obrigar‑nos a pensar cada significado em função do significante que o produz, e vice‑versa» (Kristeva, ibid.). Introduzimos simultaneamente uma dinâmica e uma verticalidade analíticas, sem as quais, de facto, perderíamos de vista as irregularidades e fissuras do tecido textual. Sem dúvida, num texto literário, quando é verdadeiramente grande, nem tudo é claro ou manifesto. Há que ter em consideração dois aspectos: as obscuridades do significado e aquilo que, do lado do significante, está simplesmente latente.
Foi o recurso simultâneo a diversos domínios do conhecimento que permitiu que se desvelasse perante nós a riqueza do Leitmotiv do «José Matias»: a iteração pluristratificada da triangularidade. Trata‑se de um paradigma que apresenta (em consonância com as teses) um triplo recorte disciplinar: psicanalítico, narratológico e gnosiológico. Mas sem a verticalização da análise, recobrindo a variedade dos estratos textuais, não teria sido possível tal desvelamento.
É sob o signo do pluralismo metodológico que erguemos a interpretação da obra. (Erguemo‑la num constante vaivém: do pormenor textual à hipótese teórica — e desta àquele.) Neste ponto, pelo menos, vamos ao encontro da perspectiva de Luiz Costa Lima:
Na verdade, para entendermos o estatuto que se confere à análise literária precisamos, de início, nos descartar de duas práticas, cuja antiguidade dificulta o reconhecimento de suas propriedades: a prática «entreguista» (a literatura se reduz ao sociológico ou ao linguístico ou ao económico ou ao psicológico) e a prática «chauvinista» (a literatura é corpo independente, dotado de autotelia gratificante). Concebemo‑la, ao contrário, como parte de uma família, de que o discurso mítico e o onírico é os parentes próximos (Estruturalismo e Teoria da Literatura, 2.ª ed., Editora Vozes, Petrópolis, 1973, pp. 218‑9).
É essa pertença familiar a garantia epistemológica da curialidade de uma abordagem textual que igualmente privilegia o pensamento simbólico, para o qual, na realidade, tertium est datur. A mera descrição greimasiana de estruturas semionarrativas fica aquém da autêntica criatividade poética, «porque as relações e operações lógico‑conceptuais não podem descrever, de forma cabal, o funcionamento efectivo de textos narrativos concretos»[vii] (Reis & Lopes, 1996: 153). Quando estes não fazem parte da chamada «literatura popular», estereotipada, mais evidente se torna a insuficiência crítica de um modelo taxinómico da narratividade, que derroga a sua intrínseca temporalidade. Subscrevendo a derrogação, Genette dá‑lhe esta razão de ser: «O texto narrativo, como qualquer outro texto, não tem outra temporalidade senão aquela que toma metonimicamente por empréstimo à sua própria leitura» (id.: 33). Passa até a tratá‑la como um pseudotempo. Ricœur, pelo seu lado, nunca lhe chamaria tal, mas «tempo fíctil, na medida em que ele está ligado, para a inteligência narrativa, às configurações temporais da ficção» (id.: 155, n. 1). E precisa a seguir a sua crítica: «Diria que se transforma o fíctil em pseudo‑ ao substituir‑se a inteligência narrativa pela simulação racionalizante que caracteriza o nível epistemológico da narratologia» (ibid.; grifos nossos). Enquanto índice de enclaustramento metodológico, essa simulação cria a ilusão de um completo domínio categorial da narrativa: a captura das regularidades sintagmáticas numa rede a priori, i.e., puramente formal e acrónica. Em suma: a redução logicista do acontecimento à estrutura. Por muito cerrada que ela seja, porém, há sempre um resto que fica por dizer. Desiluda‑se, pois, quem procure neste artigo a última palavra sobre «José Matias».
II
A inteligência narrativa é não só inseparável da experiência concreta da leitura, mas precede a própria racionalidade narratológica. Essa precedência, que constitui a tese de Ricœur (id.: 294), significa a importância fulcral da estratégia do leitor para a definição da unidade estrutural da narrativa. Inviabiliza‑se assim a sua ontologização, reconduzindo‑a à modesta condição de resultado operatório.
Com vista à exemplificação do modo pelo qual o dispositivo estratégico do intérprete afecta, de facto, a configuração do objecto de estudo, retomemos a conclusão do ensaio de Lepecki. Ela reflecte — em termos greimasianos — a atribuição do estatuto de sujeito a um determinado actor antropomórfico: o Narrador. Mas essa atribuição actualiza apenas uma leitura possível, da qual resulta aliás a ponderação axiológica dos níveis da narrativa: mais importante que o conteúdo diegético propriamente dito é, segundo a ensaísta, a sua expressão. Com efeito, o sujeito é aquele que quer — o quê? «Contar uma história.» Portanto, situa‑se num plano cognoscitivo o objecto do sujeito (em conformidade com o perfil tipológico que lhe cabe: professor e, ainda por cima, de Filosofia). (Daí deriva também a modernidade do conto.[viii]) Esperar‑se‑ia no entanto deste processo interpretativo a valorização do papel actancial do anti‑sujeito, i.e., do Narratário. Só que isso, como sabemos, não aconteceu, retirando pertinência à leitura de Lepecki. Neutralizou‑se a circulação do objecto, o conhecimento, porque não se deu o devido destaque a duas funções nucleares: persuasão e interpretação[ix].
A influência intelectual que o Narrador pretende efectivamente exercer sobre o Narratário admite dois graus de intensidade[x]:
1) a comunicação;
2) a prova.
Na verdade, o Narrador não quer unicamente dar a conhecer uma história. Se assim fosse, o seu discurso, do ponto de vista da retórica literária, não iria além da propositio (o espiritualismo de José Matias) e da narratio (sequência dos acontecimentos que ilustram a tese). Na sua qualidade de profissional do saber, cujo ideal é platónico, ele quer — expressamente — explicar aquilo que relata. Por isso mesmo, o seu discurso não pode prescindir da argumentatio. Mas temos notícia de que a perspectiva do Narrador nunca chega a ser convincente, porque esse discurso, tal como é interpretado pelo Narratário, neste não suscita senão o riso e a dúvida. Na medida em que o interlocutor o confronta (dir‑se‑ia até: afronta) com sinais de cepticismo, não podemos ignorar a estrutura polémica da narrativa. Contrariamente ao esquema narrativo tradicional, porém, o percurso do sujeito não culmina numa conjunção com o objecto, que permanece sem explicação.
Se abandonarmos a ponderação axiológica dos dois planos de análise do texto narrativo, verificar‑se‑á que a sua interdependência se manifesta de uma forma privilegiada num determinado domínio categorial: a objectivação das virtualidades funcionais da estrutura actancial. A este nível, de facto, concluímos pela identidade estrutural de dois percursos narrativos: tanto o sujeito do discurso — o Narrador — como o sujeito da história — o Herói — são confrontados com uma situação final que se caracteriza pela privação do objecto. De um lado, o sujeito não conjuga noologicamente com o objecto; do outro, ausência somática de conjugação objectal. Essa dupla disjunção semionarrativa tem larguíssimas consequências semânticas, quer ideológicas quer epistémicas. Podemos resumi‑las através deste quadro:
DOMÍNIOS DE ANÁLISE | RESULTADOS |
NARRATOLOGIA | O Autor é um «autor implicado» na narrativa; o Narrador não é digno de confiança; por último, o Narratário, na medida em que exibe a sua resistência em relação às atitudes proposicionais do Narrador, não se limita a ser o destinatário intratextual do acto narrativo. |
FILOSOFIA | O saber especulativo mostra‑se absolutamente incapaz de superar a cisão entre o plano do pensado e o plano do vivido. Para o romantismo, essa cisão tem uma razão de ser: a barreira entre λόγος e πάθος é intransponível. Ela firma‑se numa sentença antiga: Individuum est ineffabile. |
PSICANÁLISE | O individualismo romântico, exaltando a imaginação, acentua fatalmente a distância entre as expectativas do sujeito e as exigências do real. Em termos psicanalíticos, isso significa que o princípio de realidade, que faz par com o princípio de prazer, não consegue impor‑se como princípio regulador do funcionamento mental. A procura de satisfação segue assim o caminho mais curto. Daí que seja unicamente imaginária a conjunção do sujeito com o objecto. Por outras palavras: o Herói não é senão um anti‑herói. |
Como objecto de conhecimento do Narrador, e de acordo com a sua confissão de impotência, José Matias constitui um ser «inexplicado» (mas não inexplicável, diríamos nós). Como sujeito da história, como disse Lepecki, é um «pobre apaixonado irrealizado». Mas o sujeito do discurso também passa por ser alguém «irrealizado», porque não está à altura da história que quer contar. (Daí que, na definição deste último, a ensaísta recorra justamente a um particular tempo verbal: o pretérito imperfeito.) Sabemos que o discurso do professor de Filosofia pretende ser linear, seguindo assim o modelo da «evolução lógica». Da linearidade discursiva, que se quebra aqui e acolá com a perplexidade do Narrador e o riso do Narratário, resultou um círculo excêntrico em relação à história, que a fecha ilusoriamente, pairando sobre ela, mais precisamente, sobre a dinâmica das triangulações internas (verdadeiro motor da intriga), mas de um modo soberano e estático.
Em última instância, a iteração pluristratificada da triangularidade revela um surpreendente alcance semântico, ou melhor, ideológico: nos três triângulos (gnosiológico, psicanalítico e narratológico), são os vértices que se destacam os representantes da derrota do pensamento e da acção. Assim temos: a falência filosófica do panlogismo, a privação do objecto de amor e o fracasso da estratégia de persuasão.
Eurico de Carvalho
In «O Tecto»,
Ano XI, n.º 70,
Abril/2011, pp. 4-7.
Abril/2011, pp. 4-7.
[i] A Letra e o Leitor, 3.ª ed., Lello & Irmão — Editores, Porto, 1996, p. 203.
[ii] Barthes, Roland, Ensaios Críticos, Edições 70, Lisboa, 1977, p. 351.
[iii] Kristeva, Júlia, História da Linguagem, Edições 70, Lisboa, 1988, p. 314.
[iv] Eça na Ambiguidade, Jornal do Fundão Editora, Fundão, 1974, p. 76.
[v] Genette, Gérard, Discurso da Narrativa, 3.ª ed., Vega, Lisboa, 1995, p. 25.
[vi] Cf. Ricœur, Paul, Temps et Récit, II — La Configuration dans le Récit de Fiction, col. «Points», Éditions du Seuil, Paris, 1984, p.155.
[vii] Reis, Carlos e Lopes, A. C. M., Dicionário de Narratologia, 5.ª ed., Livraria Almedina, Coimbra, 1996, p. 153.
[viii] «O conto moderno exige, de facto, que sejam considerados processos que se desenrolam sobre o plano cognitivo, quer se trate de observação ou informação, de persuasão ou interpretação, de engano, ilusão, mentira ou mistério» (Ricœur, id.: 104).
[ix] «Para justificar a persuasão e a interpretação, é preciso, com efeito, recorrer às categorias, novas para a semiótica, mas muito antigas em filosofia, do ser e da aparência. Persuadir é fazer crer que aquilo que parece é; interpretar é inferir da aparência o ser» (Ricœur, id.: 105).
[x] Sobre o que segue, cf. Lausberg, Elementos de Retórica Literária, 4.ª ed., Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1993, p. 104.
Etiquetas: ENSAIO


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




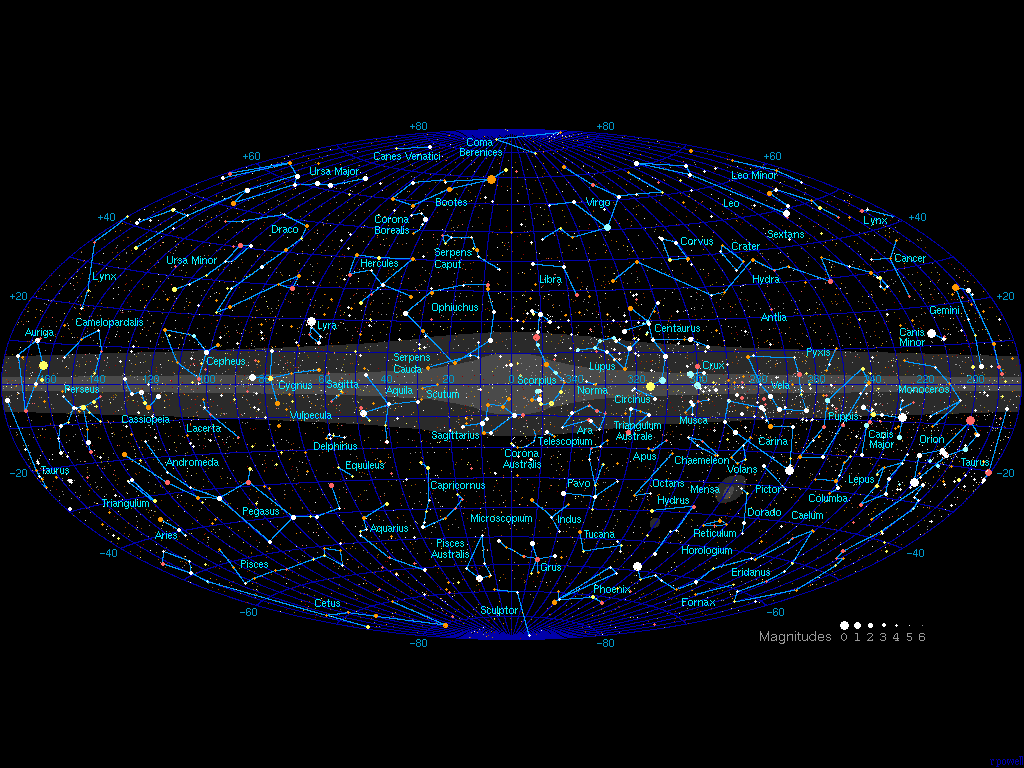
2 Leituras da Montr@:
Caro Professor Eurico de Carvalho, não tenho qualquer pretensão sobre análise literária - por muito que seja um leitor quase compulsivo e um aceitável conhecedor de Eça e da sua obra.
No entanto, a propósito do escritor, de quem sou descendete, tive no Expresso uma 'pega' jornalística com José Hermano Saraiva que resultaria mais tarde um livro vagamente biográfico que titulei de «Eça de Queiroz e os seus clones». Nesse volume incluo um texto sobre este fabuloso «José Matias» (que realmente desconhecia até então) onde exibo a pretensão de conhecer a chave, se tal se lhe pode chamar, do bizarro comportamento do personagem passivo e a enterrar.
Se quiser ter a paciência de o ler, será para mim uma honra.
Estará hoje no Facebook, no meu nome, ou no link que aqui lhe deixo do blogue ('É Tudo Gente Morta'), onde escrevi até há bem pouco tempo, mas que, para grande tristeza minha (e não só), deixou de estar activo. Salvaram-se os arquivos...
http://www.etudogentemorta.com/2010/06/jose-matias-de-albuquerque/
Com os melhores cumprimentos
António Eça de Queiroz
Caro António Eça de Queiroz,
A honra é, por certo, minha, pelo facto de ter como interlocutor um descendente do grande Eça.
Quanto ao seu artigo, há que dizer que o li com muito prazer. Concluída a leitura, porém, impõem se duas observações: (i) perante uma personagem tão complexa como José Matias, parece me excessivo o recurso a uma causalidade unilinear (neste caso, a disfunção sexual); e (ii) a galeria de filósofos, de que Eça faz gala, não desempenha, de modo algum, o mero papel de adereço retórico.
Em relação às observações supracitadas, creio que lhes dá cabal cobertura o meu longo ensaio sobre o «José Matias», de que o texto que teve a amabilidade de ler constitui tão somente um pequeníssimo excerto. Infelizmente, por razões que se prendem com a selva editorial lusitana, ainda não pude publicá-lo...
Com os melhores cumprimentos,
Eurico de Carvalho
Enviar um comentário
<< Home