GUY DEBORD E A MODERNIDADE: EM DIÁLOGO COM ADORNO E HABERMAS
O direito da particularidade do sujeito em ver se satisfeita ou, o que é o mesmo, o direito da liberdade subjetiva, constitui o ponto crítico e central na diferença entre a antiguidade e os tempos modernos.
HEGEL
Qual albergue espanhol dos filósofos e artistas do século transato, a ideia de modernidade, que se furta a uma definição explícita, tem dado corpo a múltiplas vestes e pontos de vista, cuja convivência, de resto, só pode ser polémica. Ora, ainda que não tenhamos como fito último o seu saneamento, impõe-se, pelo menos, a urgência de um exercício de clarificação conceptual. Fá-lo-emos, aliás, com o objetivo de situar a posição intelectual de Guy Debord. Situá-la, porém, exige uma determinação prévia, por muito incipiente que seja, dos termos que se seguem: moderno, pré moderno e pós moderno. Neste recurso sistemático à prefixação, que nos é familiar, desenha se, desde logo, não só um recorte temporal, cujo correlato substantivo deve ser dilucidado, mas também o perfil presentista de um momento civilizacional. Com efeito, a consciência de que se é moderno advém, antes de tudo, da insuperável recusa de que o presente encontre a sua medida no passado. Eis que então surge inevitavelmente, segundo Habermas, a necessidade de autolegitimação da modernidade. No entanto, para o herdeiro da Escola de Francoforte, trata se de um problema que apenas adquire dignidade filosófica, de facto, quando se assiste à emergência da reflexão hegeliana acerca da idiossincrasia histórica dos tempos modernos .
Conforme a epígrafe, a modernidade tem o seu fundamento no princípio da subjetividade, que deve ser interpretado, no entender de Habermas, de molde a evidenciar, pelo menos, três sentidos possíveis: (i) o individualismo, (ii) o direito à crítica e (iii) a autonomia do agir . Deste triplo ponto de vista, são também três os acontecimentos chave da História do Ocidente: (i) a Reforma, (ii) o Iluminismo e (iii) a Revolução Francesa . Neste contexto histórico filosófico, sobressai naturalmente, como característica nuclear da condição moderna, o entrelaçamento mútuo das exigências de liberdade e reflexão. A modernidade, em suma, vê se a si mesma como livre de quaisquer amarras pré-modernas da tradição, sendo o seu tempo, portanto, o futuro, que se assimila à ânsia de progresso. Não obstante o que dissemos, nós, contemporâneos, não nos revemos já, paradoxalmente, nessa imagem do futuro, cuja falência significa, afinal, a morte da promessa da emancipação. Ademais, ninguém ignora a melancolia do fim que envolve todo o discurso sobre a chamada «condição pós-moderna» . Certo é, todavia, que continua a ser moderno, quer se queira, quer não, o ato pelo qual pomos em questão a atualidade.
Mas o que hoje se entende por modernidade, como é sabido, ganha inicialmente substância a partir de uma reflexão estética. Baudelaire concebe-a, em boa verdade, sob o ponto de vista da experiência do tempo, como o flanco transitório da arte, que se configura, por outro lado, como a porta de acesso à sua essência imutável. Por isso, o que há de moderno na obra artística passa por ser o brilho efémero do presente, ou seja, a beleza passageira da vida. Neste sentido, a autocompreensão temporal faz-se — como assinala, e bem, Habermas — sob a égide de uma atualidade que se consome enquanto tal, i.e., como entrecorte de tempo e eternidade, mas cujo modelo não é senão o espelho em que se reflete a sua própria afirmação fulgurante, que incessantemente se renova, do instante insubstancial da criação. Daí que haja um visceral parentesco entre a vivência moderna e o fenómeno da moda.
Pese embora a novidade da sua reflexão, de que a recusa da figura parcelar e servil do artista constitui sinal evidente, Baudelaire não deixa de a conceber sob o paradigma da representação, tanto mais que fala como crítico de arte. Guy Debord, pelo contrário, radicalizando o impulso de modernização estética, clama pela beleza do futuro, a qual, além de ser fugaz, deve romper com o quadro mental da representação, sendo, consequentemente, uma beleza de situação. Deste modo, decreta se o fim da arte ou, antes, se nos permitem o uso da linguagem de Baudelaire, da sua metade suscetível de aspirar à eternidade.
No que diz respeito a essa beleza, que se quer «provisória» e «vivida», coloca-se a questão de saber em que medida ela significa, no quadro das vanguardas do século XX, um efetivo avanço relativamente às orientações programáticas dos surrealistas. Convém que a resposta seja clara, porque ninguém ignora que o surrealismo se constitui intelectualmente como um movimento niilista, i.e., que clama pela destruição da arte. Além disso, o diagnóstico da modernidade não pode prescindir de um balanço da ofensiva modernista contra a cultura, que se confunde, aliás, para Debord, com a crítica à burguesia. Não surpreende então, neste quadro polémico, que o mesmo Debord reivindique, para os situacionistas, a condição de únicos herdeiros dos «artistas malditos» dessa viragem do século .
Mas esse balanço, de acordo com Habermas, não deve eludir o «fracasso da revolta surrealista» e, por arrastamento, de todo o modernismo. Apoia-se, neste domínio, na avaliação adorniana do legado do surrealismo, que mostra que este último nega a arte sem que dela, realmente, se consiga desembaraçar. Na realidade, os surrealistas não cumpriram ou não puderam cumprir a sua extraliterária promesse de bonheur: a reinvenção de uma vida quotidiana autêntica e livre. É nesse incumprimento, contudo, que assenta, à revelia do autoproclamado espírito do movimento de André Breton, a faceta académica e espetacular do surrealismo, pois que nos oferece, por fim, e tão-somente, um novo capítulo da história da arte.
Neste nível de análise, portanto, tanto Habermas como Guy Debord, dois pensadores deveras díspares, apresentam diagnósticos convergentes: é exatamente porque o surrealismo falha o seu alvo, a fusão da arte com a vida, que é possível julgá-lo esteticamente, i.e., como mais uma corrente artística do Ocidente. Mas não termina aqui, como havemos de ver, a surpreendente convergência judicativa, cujo amplo significado cultural dirige inapelavelmente o olhar para o lentíssimo estertor do vanguardismo modernista. Antes de lá chegarmos, todavia, há que discutir o sentido histórico-filosófico desse modernismo, no seu todo.
Para que a discussão atinja o núcleo problemático do que, quanto a nós, merece ser objecto de pensamento (com a consequente ultrapassagem de um discurso neutro ou, melhor dizendo, típico de um verbete enciclopédico), devemos levantar uma pergunta que nos parece incontornável: Não será o modernismo uma tentativa de superar a fragmentação moderna da cultura? Para além da resposta que a fórmula interrogativo- negativa, à partida, pretende induzir, urge explicitar, relativamente à ideia de modernidade, o conteúdo implícito que subjaz à mesma interrogação. Aliás, tal explicitação, pelas suas consequências filosóficas, ser-nos-á seguramente útil, pelo facto de obrigar a reflexão a transcender o estrito plano das estéticas de vanguarda.
Com o fenómeno da secularização, que marca o início dos tempos modernos, assistimos à perda irreversível do poder da religião. Quando se tornou manifesta a erosão social dessa força que unificava consciências e estilos de vida (com o seu corolário: o antitradicionalismo), emergiu, de vez, a característica nuclear da modernidade: a progressiva autonomia axiológica da ciência, da arte e da moral. É também neste contexto que podemos fazer nossa a sugestiva tese de Habermas: «Kant exprime o mundo moderno num edifício de pensamentos.» Exprime-o, sem dúvida, com o celebérrimo apelo ao tribunal da razão, que julga todos os candidatos à maioridade discursiva. Nenhum lhe escapa, na medida em que ele julga, afinal, a capacidade racional de julgar, seja qual for o objeto do juízo: o verum, o bonum e o pulchrum (de acordo com a terminologia escolástica). Explica-se esta tripartição, cuja correspondência com os transcendentais da tradição metafísica é meramente nominal, pela necessidade de respeitar a especificidade cultural de cada área sujeita a exame crítico. Para cumprir o seu papel de «juiz supremo» da cultura, a própria razão se divide, desdobrando se teórica e praticamente, o que implica que a sua unidade, contrariamente à conceção clássica, já não possa ser senão formal .
Tendo em mente o que acima dissemos, compreende-se que a modernidade cultural se caracterize essencialmente pela especialização, que cava um fosso cada vez maior e, por isso, intransponível entre peritos e opinião pública: «O que a cultura desenvolve pela reflexão e pelo tratamento especializado não enriquece espontaneamente a prática quotidiana.» É precisamente neste «ponto negro» da modernidade que, doravante, deve incidir a nossa análise. Ao tocar-lhe, e sem que o saiba, muito provavelmente, Habermas retoma (vê-lo-emos adiante) um tema central do discurso de Guy Debord.
Agora, porém, faz-se mister ver o modo como Habermas responde à pergunta — que atrás deixámos — acerca das relações entre modernismo e modernidade cultural. Não poderia ser mais clara a sua resposta: a negação modernista da arte equivale, de facto, a uma falsa superação da cultura. Com efeito, o filósofo alemão relega simplesmente para a categoria do nonsense toda a tentativa de assimilar a criação artística à espontaneidade vital, de que o automatismo psíquico dos surrealistas constitui, sem dúvida, a melhor ilustração. Só poderia falhar, portanto, a aposta subversiva do movimento de André Breton, tanto mais que Habermas lhe atribui a responsabilidade de um duplo erro: (i) a destruição da forma estética conduz à irrelevância cultural dos conteúdos que dela se livram, não havendo lugar, consequentemente, para qualquer efeito libertador; e (ii) a reconciliação — através da arte — da cultura com a vida, por ser unilateral, traduzir se ia num empobrecimento mútuo, significando até uma imposição violenta sobre o Lebenswelt, cuja «compreensão exige uma herança cultural tomada em toda a sua amplitude». Na verdade, a vivência quotidiana, pelo seu sincretismo, alimenta-se necessariamente de uma interpenetração de juízos cognitivos, morais e estéticos. Assim sendo, não surpreende a avaliação habermasiana deste último erro, considerando-o, por força das suas consequências, de uma gravidade superior à do precedente.
Caber-nos-á, por outro lado, avaliar a justeza desta argumentação, que Habermas aduz em favor da sua crítica do modernismo. Ver-se-á também em que medida ela pode afetar a posição intelectual de Guy Debord. Ora, para que possamos cumprir cabalmente ambas as tarefas, temos de distinguir os dois argumentos, cujo valor talvez seja desigual. Certo é, em todo o caso, que não se colocam sob o mesmo prisma de análise. Mas vamos por partes, atacando primeiramente o que está em primeiro lugar.
Por ser sobretudo devedora da «escrita automática», a destruição surrealista da forma estética «corre o risco de ser apenas um psitacismo baseado na fragmentação heteróclita de memórias literárias». Como a afirmação bem comprova, Jorge de Sena primava pela lucidez de raciocínio. Neste ponto, sublinhemo-lo, Debord não lhe ficou atrás, denunciando com vigor o «lado retrógrado do surrealismo»: a «monótona exploração artística» do inconsciente freudiano. Dessa monotonia faz prova bastante a tese de que existe uma relação inversamente proporcional entre o grau de «automatismo» dos poetas surrealistas e a respetiva grandeza literária.
Para que o primeiro argumento de Habermas possa colher, por inteiro, o beneplácito de Guy Debord, é preciso, no entanto, limitar-lhe o alcance analítico, restringindo-o, de facto, à crítica do surrealismo. Sem isso, i.e., sem o cumprimento dessa cláusula interpretativa, torna-se iminente o risco de se perder a particularidade da visão debordiana do modernismo, que está longe de ser idêntica, apesar de tudo, à de Habermas.
Para Debord, o surrealismo representa, relativamente ao dadaísmo, um passo atrás. Pese embora o seu «lado progressista», a apologia de uma liberdade absoluta, o projeto revolucionário desfigurou-se sob os auspícios de uma libertação formal que não soube romper com os limites burgueses da atividade artística. A este propósito, mais do que uma falsa superação vanguardista da cultura, de que nos fala Habermas, devemos falar de uma cultura vanguardista da (falsa) superação. Mas a via estetizante da libertação formal, cujo esgotamento é por de mais evidente, não esgota, segundo Debord, o modernismo ou, antes, o espírito rimbaldiano da modernidade. Nele, realmente, não parece haver espaço conceptual para a distinção, que Adorno diz ser «demagógica», entre modernismo e modernidade.
Se o surrealismo representa, afinal, para Debord, relativamente ao dadaísmo, um passo atrás, é porque este último não se preocupa com a mera libertação formal da arte, mas quer — pura e simplesmente — liquidá-la, o que implica, claro está, a recusa antiartística da forma, culminando ela, por sua vez, num regime bárbaro de inarticulabilidades (v.g.: gritos) e de desarticulações (v.g.: gestos absurdos e gratuitos). Numa derradeira instância, é a própria dignidade cultural de todo o conteúdo possível da obra de arte que se põe em xeque, o que justifica a rutura total com a tradição. Como diria Adorno, com a experiência dadaísta, o modernismo revela o seu conceito privativo: «muito mais negação, desde o início, daquilo que atualmente já não deve existir do que slogan positivo». Daí que seja literalmente dada a sua linguagem.
Mas o modernismo não se reduz à sua figura negativa. Há que ter também em conta uma faceta que lhe cabe essencialmente: a construção, ou seja, a vertente experimental e metódica da criação moderna, que assim se opõe à subjetividade abstrata da imaginação romântica. É por isso que Debord não faz parte do grupo dos dadaístas, ainda que lhes reconheça, sob o ponto de vista da decomposição cultural, um papel insuperável e revolucionário. É por isso que Debord, sob essa mesma perspetiva, rejeita o surrealismo, assimilando-o a um «suplemento» que prolonga artificialmente o processo pelo qual se decompõe a cultura burguesa.
O ideário programático debordiano, que se distancia simultaneamente (ainda que por motivos opostos) das vanguardas dadaísta e surrealista, incide sobre os «problemas de uma verdadeira vida a construir». Trata-se, portanto, de um programa construtivista que transborda as fronteiras das esferas culturais da modernidade. Para o implementar, há que recorrer, de acordo com Debord, a «métodos superiores de enriquecimento da vida». Quais são eles? Eis uma pergunta importantíssima. Com efeito, é pela via de uma resposta sintética — a construção de situações — que podemos responder à questão, que acima colocámos, de saber em que medida, de facto, se institui o situacionismo como uma vanguarda face à posição surrealista. No que se segue, urge, pois, comparar os meios de que ambos se servem para pôr em prática os respetivos projectos de intervenção na vida quotidiana.
Como diria Debord, na sua polémica com os surrealistas, tanto o automatismo psíquico como a exploração do acaso não são senão «métodos inferiores de empobrecimento da vida». Acabámos de pôr entre aspas o que constitui objetivamente uma exemplificação da técnica do desvio, que não há que confundir com o plágio. Embora remonte, pelo menos, a Lautréamont, a sua generalização teórico prática tornou-se visível, em grande escala, com o movimento situacionista. Trata-se de uma citação que se deforma intencionalmente — e sem respeito pela propriedade intelectual —, tornando-a, deste modo, um instrumento cultural da luta de classes, o que a distingue, ademais, da escrita automática, cujo psitacismo lhe retira força revolucionária.
Para além do contraste entre as duas técnicas supracitadas, o desvio e o automatismo, devemos acentuar as diferenças entre surrealistas e situacionistas a partir de uma nova oposição: «exploração do acaso» versus «deriva». Enquanto a primeira, para Debord, se configura como «uma situação passiva e reacionária» , a segunda, pelo contrário, organiza se ativamente sob o princípio de que existe um relevo psicogeográfico do território (em especial, urbano), tendo em vista o desmantelamento das fronteiras entre atmosfera e habitação. Nesse domínio improvável da psicogeografia, a deriva surge como um processo capaz de estimular a criação de um estilo de vida incompatível com os critérios utilitários subjacentes às deslocações diárias da multidão. Consequentemente, provoca- se a emergência, em pleno quotidiano, do que é novo e se furta à classificação psicossociológica. Assistimos a um fenómeno de «estrangeiramento», que não se deixa reduzir, todavia, à arbitrariedade onírica da «flânerie» surrealista.
Perante a impossibilidade (de que o dadaísmo é o porta-voz exemplar) da objetivação artística, a deriva parece ser o modelo de uma «beleza de situação», i.e., invisível e irrepresentável. Só nos resta vivê-la, naturalmente. A sua vivência efetiva pressupõe, porém, o que ainda faz parte do futuro: a finalização da decomposição cultural em curso, ou seja, a superação revolucionária do regime espetacular vigente. Donde a inevitabilidade da melancolia que perpassa o juízo de Debord sobre o seu tempo, subsumindo-o sob a vinheta labiríntica de uma grande encruzilhada: por um lado, já é muito tarde para criar arte; e, por outro, é muito cedo para construir situações.
Eurico de Carvalho
In «O TECTO», Ano XII, n.º 76, Janeiro de 2013, pp. 2/8.
Etiquetas: ENSAIO, Guy Debord


 orcid.org/0000-0001-9506-1700
orcid.org/0000-0001-9506-1700




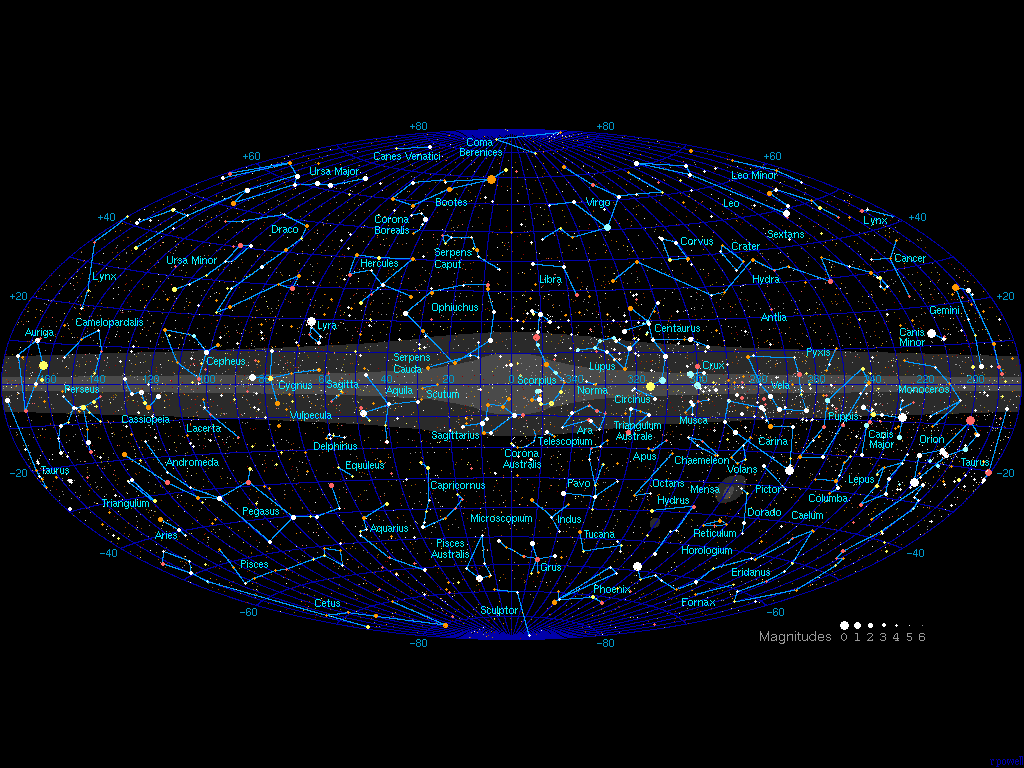
0 Leituras da Montr@:
Enviar um comentário
<< Home